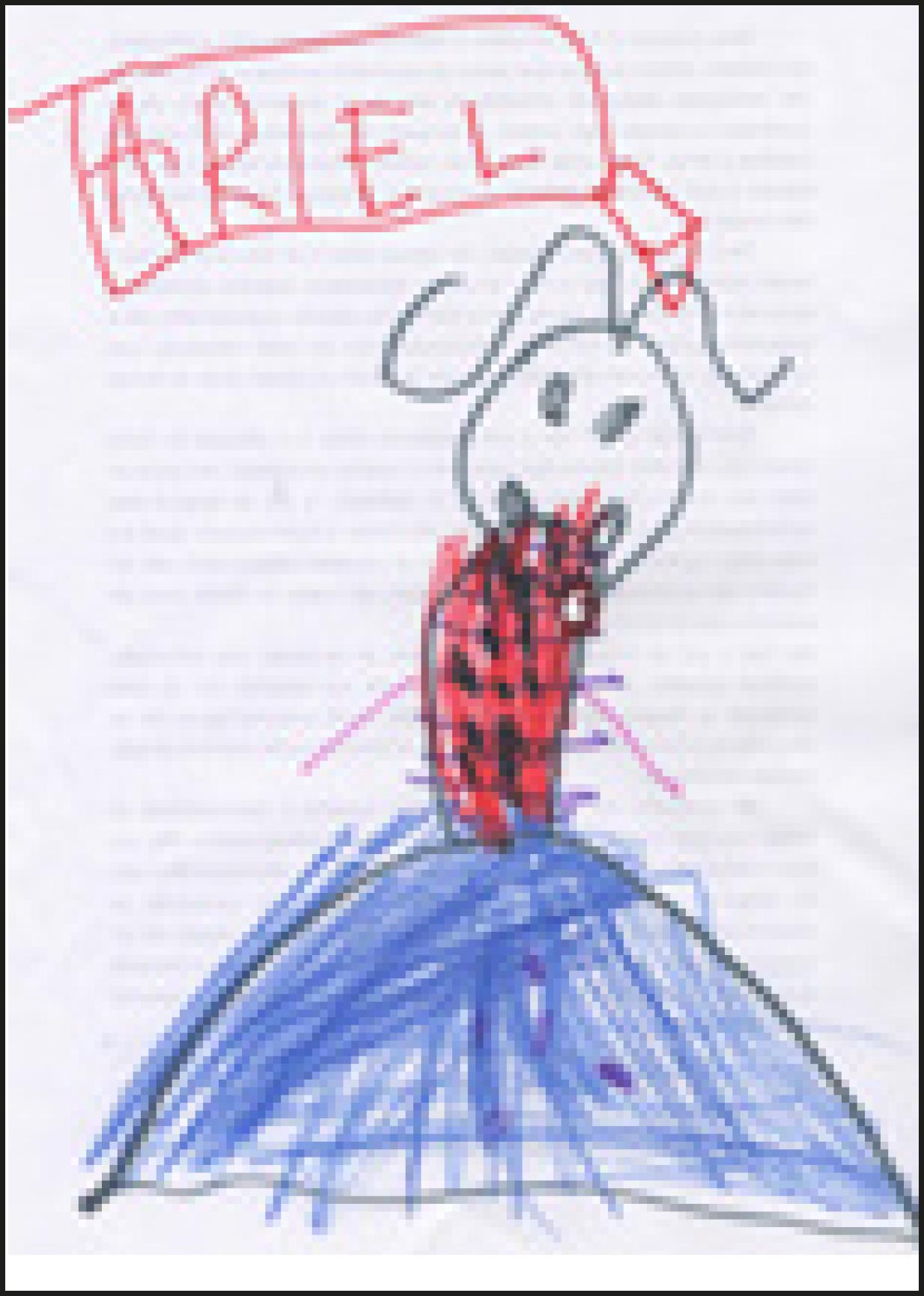1 INTRODUÇÃO: PALAVRAS INTEMPESTIVAS EM TEMPOS DE SUSPENSÃO DO NORMAL
Vivemos, nos dias que correm, uma situação complexa e inimaginável devido à pandemia da Covid-19, situação que tem gerado incerteza, nossa única garantia mediante o desconhecido. O minúsculo e invisível viral nos faz recordar, quase a todo momento, que podemos sentir aquilo que não podemos ver, sim. Senti-lo bem como os seus efeitos, numa espécie de experiência estética que também compõe nosso estar sendo. Tantas cenas e cifras que gritam, estridentemente, a crueza da desigualdade, o rebosteio da oratória em prol da normalização do “assim das coisas”, a fragilidade de nossas democracias e de seus (im)previsíveis direitos prometidos.
O mundo parece estar se decompondo. Em sua decomposição, o esqueleto de algumas hipocrisias começam a se mostrar em sua gelidez e fealdade: o discurso neoliberal como remediador e democrático; a meritocracia como produtora de subjetividades obliteradas em sua potência; o absurdo da culpabilização da coisa pública pela falência do Estado; a política de mesmidade e homogeneidade como rota civilizatória e educativa; a educação como mercadoria; o pobre como culpável pela pobreza; o aluno que não aprende como culpado pela não aprendizagem; o professor como vilão da educação; o flagelo e o genocídio como políticas de governos; e a vida como bem substituível ou descartável.
Para onde olhamos mundo afora, de diferentes maneiras e com intensidades variáveis, vemos espalharem-se forças necrófilas famintas pelo apagamento de potências e pulsões desejantes, pelo silenciamento de vozes, pela negação de culturas, experiências, existências, biografias e corpos, pela transformação da educação em um corpo inerme e morto, passível de sovar, como a famigerada Geni da música de Chico Buarque1: “Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir”; em outras palavras, aos diferentes e diversos restariam, pois, a violência, a desigualdade e a indiferença como narrativas e narrações sobre si e sobre seus mundos. Aí, o futuro não é outra coisa senão a negação do sujeito e a proposição de algo diferente de quem se é: “deixa de ser tu para que possas ser alguém aceitável na confraria dos normais”.
Sobre o perigo dessa lógica nefasta, alerta-nos Ailton Krenak (2020), com o título de seu livro: “O amanhã não está à venda”. Tampouco aceitaremos como dada a situação de fim da história, de “fluxo natural das coisas” que sempre foi assim e, por isso mesmo, está justificada por si. Nosso amanhã é urdido aqui, hoje, agora, por meio de nossas histórias, corpos, vidas! Experiências de afirmação e polinização de vida, em meio à pandemia, lembram-nos disso! Não precisamos de autorização para ser outros: somos corpos vibrantes e singulares!
No entanto algumas autoridades vociferam a morte de tudo o que canta liberdade ou do que segue sendo um grito de transgressão, sempre quando esta for sinônimo de afirmação de um self, de singularidades irrepetíveis. “Vivemos outros tempos” - admoestam tais autoridades. Sim, é verdade... São outros os tempos: o anseio de aniquilação racista, preconceituoso e xenofóbico que se fez presente na Argentina dos 1870, momento em que os mais pobres foram deixados à própria sorte para morrerem de febre amarela no bucólico San Telmo (tanto quanto no Brasil dos 1850), nos dias atuais, segue disfarçado por meio de discursos pretensamente falsos e hipócritas - os mesmos que querem justificar o sucateamento de hospitais, o fechamento de escolas, o ataque às universidades públicas, o fim do serviço público, o fim da estabilidade de servidores públicos...
Enfim, muitos, intermináveis poderiam ser os exemplos para desvelar e denunciar um mundo enfermo no qual a pressa pela produção, o afã pelo lucro e a preocupação desmesurada com a economia parecem reger o ritmo dos abraços, das conversas, dos olhares, da educação: a necessidade de sempre haver produções e produtos palpáveis como condição para a existência de uma aula, a supervalorização dos conteúdos como lista a ser cumprida, a compartimentalização e aceleração dos tempos escolares...
No entanto não anunciemos o fim dos tempos. O turbocapitalismo tem ditado uma narrativa do mundo (que comporta modos de ser, estar e habitar específicos), mas não a única. Talvez estejamos vivendo a ebulição, ao modo de Nietzsche (2011), de uma estrela que dança, parida das entranhas de nossos equívocos e tentativas de seguir inventando e afirmando ecologias de modos possíveis de ser e estar, isto é, de nossa humanidade terrena e profana, conectada com o que pulsa nas relações, nos cotidianos e nos processos de aprendizagem e formação: a vida. Mas em que medida tem sido a vida (e não o mercado ou o trabalho) a tônica de nossas preocupações, ações e políticas educativas? Em defesa de quem e desde que experiências, narrativas e vozes tais políticas têm sido escritas?
Em “A escuta das diferenças”, Carlos Skliar (2019) relata uma experiência investigativa que se consistiu em conversar (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018) com crianças argentinas antes e depois do primeiro dia de aula, perguntando-as acerca do que fariam e do que tinham feito na escola. As respostas, grosso modo, acionavam duas grandes imagens: ao ir para a escola, o desejo de brincar, inventar, conversar, estar junto, criar. Na volta: trabalho, atividade, dever, obrigação.
O que tais imagens podem nos dar a pensar nesses tempos que nos tocam viver, em que se fala tanto de bases comuns curriculares, políticas curriculares e formativas e conteúdos mínimos, muitos dos quais trazem, consigo, a sanha pela homogeneidade, pela ratificação de narrativas e saberes instituídos? Podem as políticas que nos encaminharam até aqui ser uma resposta possível à tessitura de outros mundos (educativos) possíveis, como resposta a esse(s) que elas mesmas ajudaram a criar? Não estão as políticas atuais compromissadas com uma agenda mercadológica e mercantil, como se a educação fosse mercadoria e o conhecimento um produto?
Neste texto, pensamos acerca de uma possível aproximação entre educação e inutilidade como forma de ser e estar no presente, de habitar experiências, as relações que vivemos, de dizer basta à “fantasia financeira” (KRENAK, 2020) com que, paulatinamente, tem-se querido regular e dar sentido à vida. Assim, apostamos na suspensão, na calma, na possibilidade de estar presente como gestos educativos potentes na construção de relações nas diferenças, na educação como conversação e comunidade: espaço-tempo de partilha e indagação de saberes, experiências, histórias, de expressar e expressar-se, de pensar com os outros, de sermos no coletivo.
Para tal, trazemos algumas falas de docentes brasileiros em torno do papel da linguagem na escola e da importância desta última, em especial a linguagem escrita. Trata-se de narrativas produzidas em torno de uma ação investigativa com professores de diferentes níveis e modalidades de ensino na rede pública brasileira. O que elas provocam a pensar? Que inquietações nos suscitam nesse contexto atual?
2 CONVERSAR COMO PESQUISAR: UM BREVE CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO
Antes de mergulharmos no exercício de escrever, conversar e pensar com as narrativas docentes, gostaríamos de compartilhar o contexto no qual se dá a ação investigativa que anima a escrita deste artigo, com inspiração ensaística.
Em abril de 2020, viveríamos, em Buenos Aires, um encontro internacional com pesquisadores de diferentes países da América Latina e Europa para conversar e pensar sobre a escrita na escola, em modo de elogio. Outros encontros já haviam ocorrido. Nesse, cuja organização fora realizada desde o ano anterior, viveríamos conversações a partir de leituras de nossos textos, compartilhados com antecedência entre nós. Em outras palavras: nós nos reuniríamos para conversar e pensar a partir da leitura prévia e da partilha de nossos próprios textos, para sentir e compartir ressonâncias, sentidos, texturas, saberes e sabores.
Todavia, no meio do caminho, havia uma pandemia. A Covid-19 impossibilitou nossos planos, mostrando-nos, mais uma vez, que não temos, tal qual sugere a teoria da complexidade (NAJMANOVICH, 2008), controle sobre o fluxo e o acontecer de nossas vidas, ainda que isso não signifique que também não sejamos autores delas. Talvez se trate de uma autoria relativa - ou compartilhada -, à medida que somos e pensamos desde onde habitamos, na relação com o outro (BAKHTIN, 2011).
Diante da impossibilidade do encontro, os planos foram reconfigurados. Passamos a conversar virtualmente por e-mail, quando surgiu a proposta, por parte de um dos integrantes do grupo, de conversarmos com professores de diferentes disciplinas, modalidades e níveis de educação distintos, a fim de perguntar sobre impressões acerca da importância da escrita, da linguagem escrita na escola de hoje.
Assim, uma vez posto o desafio, mordemos a isca, e diferentes respostas, narrativas e conversações foram possíveis. Assumimos que conversar é um modo legítimo de investigação, de relação, porque implica uma forma especial de prestar atenção, de inquietar(se) e indagar(se) a partir da experiência, da vivência, das falas do outro. Conversar como gesto de escuta, quiçá como princípio e metodologia, como nos ensinam os Emberas, povo indígena colombiano cuja educação se baseia na premissa da escuta: semeadura do silêncio, suspensão da pressa, esquecimento da explicação... Escuta como tentativa de enxergar o outro e sua voz, sempre grávida de histórias e de sabedoria, de sair um pouco de si para receber e deixar-se banhar pela palavra alheia, as ressonâncias de sua experiência e vivências.
No caso aqui evocado, conversamos por escrito e oralmente, por meio de plataformas digitais. Nas conversações, falas e narrativas, não buscamos verdades: escuta-se e conversa-se não pela construção de uma verdade, mas pela desconstrução de muitas. Dessa maneira, interessam-nos ressonâncias, experiências grávidas, relatos com alguém dentro, habitados, encarnados, vividos... Em vez de verdades, interessam-nos e animam experiências e narrações vitais.
Nesse movimento, conversar possibilita pensar com o outro, escutar, estranhar, desentender, inquietar o corpo e o próprio pensamento, não rumo a um lugar melhor ou a um patamar de mais esclarecimento, senão como movimento, como exercício de espichar nossos modos de ver e compreender, de seguir sendo já diferente de nós mesmos. Damo-nos a ler quando conversamos. Conversa como intimidade, proximidade, ex-posição e disposição ao outro. Por isso, lançamos mão de diferentes estratégias e instrumentos metodológicos para seus registros: gravação de conversas on-line, troca de e-mails, escrita de notas de pesquisa contendo ideias e inquietações a partir dos encontros ou conversas vividos etc.
Para nós, conversar figura uma opção de pesquisa educativa para quem a vive, independentemente da posição que ocupa (investigador e/ou “investigado”, professor e/ou aluno), pois não se trata, novamente, da acepção clássica de pesquisa e de pesquisador. Na conversa, quiçá, em vez de investigadores, vivemos a possibilidade de fazermo-nos investigação, como nos convidou a pensar Francisco Ramallo, em um dos encontros do Programa Específico de Investigação Narrativa e Autobiográfica, do Doutorado em Educação da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina.
Ser investigação: cultivar o ouvido atento, o olhar sensível, o corpo disponível, os sentidos abertos e os preconceitos sob suspeição e indagação. Experimentar a aventura investigativa como viagem, como caminho percorrido e experimentado. O que passa quando conversamos? O que as narrativas do outro provocam em nós? E o que fazemos com aquilo que elas nos fazem? Que sentidos e ressonâncias as narrativas docentes, produzidas num contexto de pandemia, forçam-nos a pensar/perceber/imaginar em torno da educação? Que educação?
3 ELOGIO À INUTILIDADE COMO GESTO POLÍTICO EM EDUCAÇÃO
As perguntas com que fechamos momentaneamente a seção anterior nos abrem algumas inquietudes. O contexto pandêmico repercutiu nas nossas ações investigativas, nas nossas formas de ser e estar, nos nossos modos de viver a educação. A suspensão de muitas atividades, no mundo inteiro, faz aflorar especialistas de plantão e avaliadores de vocação: opiniões e mais opiniões sobre como fazer, o que fazer, quais estratégias e instrumentos, quais conteúdos mínimos considerar, como condensar currículos etc. Rios de atividades e folhas têm sido enviados para os lares. Muitas vezes, crianças de 3, 4, 5 anos precisam cumprir a tarefa enviada. Tudo em nome do currículo mínimo, tudo em nome de uma base comum... São aulas virtuais, cópias e mais cópias de folhas, produções e mais produções... Afinal, “não podemos perder o ano”, discurso talvez recheado da subjetividade capitalística que nos faz confundir vida e trabalho!
A lógica do não perder o ano revela: parece pulsar, nos discursos e argumentos educativos vigentes, não razões pedagógicas, mas, antes, mercadológicas, embasadas no lucro, nos dividendos, na fábrica. Educar parece, de novo, ter a ver com a possibilidade de seguir um modelo, obedecer a um dado sistema e responder de modo específico a questões pré-fabricadas, independentemente do quão diferente você seja, pense ou sinta. Escola como homogeneidade, ratificação do mesmo, como política de mesmidade, dispositivo de docilização e colonização.
Não seria essa lógica fundante das políticas públicas que se arvoram no direito de definir o que é comum (leia-se, aqui, comum como “obrigatório”) a todos, sem considerar ou escutar suas vozes e pontos de vista? Não poderíamos direcionar essa pergunta, por exemplo, à Base Nacional Comum Curricular, como forma de denunciar sua abissalidade enquanto projeto excludente que mercantiliza a educação (SÜSSEKIND; FERNANDES, 2019)?
Diferente do comum como sinônimo de obrigatório, pensamos o comum como aquilo que não diz respeito a mim nem a você, mas a todos e a qualquer um: nossas experiências e saberes locais; fatos históricos que nos ajudam a pensar nossos dias; saberes ecológicos e geográficos que nos ensinam sobre o mundo e sobre esse corpo constelar que somos junto do universo; as criações artísticas mundo afora; as múltiplas linguagens. Educação como experiência de assombro, encantamento, descoberta, inquietude e indagação. Educação como conversação e comunidade - espaço de pensar por si com o outro, de tornarmo-nos aldeias afetivas e colaborativas, sujeitos coletivos (KRENAK, 2019).
Por isso, interessa menos pensar tais políticas nacionais nos limites deste texto. Gostaríamos, ao contrário, de propor a ideia de gestos políticos. E, ao acionarmos “gestos políticos”, referimo-nos a gestos vitais, grávidos de desejo, de corpo, de sangue, pele, nome próprio; gestos que aproximam, tocam, fazem tremer, impõem pausas, pensar, escutar e acolher devagar, tratando de silenciar nossos ecos e preconceitos: olhar nos olhos da criança enquanto falamos com ela; perguntar à turma o que gostaria de aprender; pegar na mão da criança que precisa de mais confiança e de mais calor humano... Estar presente.
Para nós, gestos políticos são minúsculos, mínimos, tecidos no aqui e agora, entre nós; são fruto de relação, convite à escuta e autolibertação de si mesmo: afirmação de modos singulares de existência no mundo; vozes, corpos, vibrações, presenças, territórios... E o que muda quando são a vida e as experiências vitais os princípios que regem nossas ações e apostas formativas e educativas? O que muda quando, no lugar de políticas normatizantes, entoamos os tambores e atabaques dos gestos que, na miudeza cotidiana, conformam mundos?
Gestos políticos: movimentos de invenção e transformação de si e das relações em seu curso - com outros, com o mundo, com os saberes e as produções culturais, artísticas, éticas, estéticas e políticas disponíveis. Uma constelação - de saberes, sabores, cores, texturas, histórias, biografias, travessias, narrações, mitos... Ecologias. Multiplicidades. Força e pulsação que possibilitam a todos e a qualquer um o ato de compreender-se como sujeito potente e legítimo no mundo, na conversação.
A ideia de gestos políticos nasce das narrativas docentes, das histórias que confirmam aquilo que os estudos com os cotidianos (OLIVEIRA; ALVES, 2008; GARCIA, 2003), há muito, nos dizem: as cotidianidades escolares são espaços-tempos de produção, e não apenas reprodução, são espaços de criação, invenção, ressignificação, contestação do assim das coisas. Aí, nas redes de afeto e conversações vividas, produz-se, todo o tempo e o tempo todo, currículos, didáticas, pedagogias. A escola, em sua ambivalência, é lugar, também, de polinização de vida, de afirmação de diferenças... Movimentos instituintes que vão se compondo de gestos políticos, afetivos e inventivos, como narra o professor e diretor de escola da rede municipal do Rio de Janeiro Luan Gustavo, sobre o modo como a dança vem sendo um dispositivo de reinvenção da aula com os estudantes:
Arte e suas múltiplas linguagens têm sido grandes aliadas na busca de outras formas de escrita e leitura. Formas que não reduzam os educandxs ou os segmentem segundo a detenção de competências, mas que olhem para eles em sua totalidade, considerando principalmente suas histórias e experiências. Baseado em minha prática, a dança tem sido o principal instrumental de vislumbrar novos caminhos. Temos dançado Ciências; temos dançado a relação do homem com a natureza; temos dançado o conceito de saúde amplamente discutido, falando do lazer e morte das crianças de favela etc. Nessa dança científica, temos criado outras possibilidades de leitura e de escrita. Garanto: os educandxs até aqui “incompetentes” leem e escrevem muito bem... com a expressão de seus corpos. (Arquivo da pesquisa).
A pandemia veio tornar mais evidente algo que, há muito, tantas e tantas docentes nos dizem, com insistência: educação é mais do que conteúdo, mais do que um currículo mínimo (entendido como grade, como lista, rol de assuntos necessários a se dar conta). Quiçá os nossos mapas cognitivos e nossos territórios estéticos e afetivos dualistas costumeiros já não correspondam à necessária ecologia entre diferentes modos de ser, estar, pensar, viver, habitar, criar a partir de outras imagens que trazem consigo percursos e trajetórias possíveis, coletivas, compartilhadas, constelares. Diante de um mundo em constante fluxo, parece-nos que as imagens e metáforas capitalísticas e colonialistas construídas sob um sistema-mundo de subalternidade e silenciamento já não nos servem... Tampouco as políticas que aí se sustentam. Em vez da norma, do maiúsculo, apostamos no minúsculo, no mínimo, no pequeno, na inutilidade.
E aqui abrimos parênteses: ao sublinharmos a inutilidade como potência para pensar a educação hoje, dialogamos com Ailton Krenak (2020, p. 109):
Nós estamos, em nossa relação com a vida, como um peixinho num imenso oceano, em maravilhosa fruição. Nunca vai ocorrer a um peixinho que o oceano tem de ser útil, o oceano é a vida. Mas nós somos cobrados o tempo inteiro a fazer coisas úteis.
Somos cobrados o tempo inteiro a abdicar da vida em prol de outra coisa, que talvez seja consumir e gerar lucros para as grandes empresas/corporações (CONCHEIRO, 2016). Indagamos: pode a escola ser uma experiência de negligenciamento da vida em prol do mercado de trabalho? Tal inquietude nos aproxima das proposições de Masschelein e Simons (2013) acerca do educativo e do escolar.
De acordo com os autores acima referidos, na qualidade de invenção grega destinada ao exercício do tempo livre para o pensar e fazer coisas, isto é, como possibilidade de suspender os objetos, assuntos e o próprio mundo de sua “utilidade” socialmente estipulada e exercitar a atenção e o pensar como processo de busca e cuidado de si e do mundo, para além da lógica mercantil e mercantilista em torno do conhecer e do pensar, a escola pode ser compreendida, em sua acepção e experiência grega, como lugar de suspensão das “desigualdades” socialmente atribuídas aos sujeitos por sua cor, classe social, sexo etc. Escola é, portanto, lugar para o exercício da potência de cada sujeito diante de um mundo novo e desconhecido que lhe é apresentado para que possa recomeçá-lo, reinventá-lo. Escola como suspensão do tempo produtivo orientado ao mercado, como tempo livre ou liberado. Escola como exercício de inutilidade, defendemos nós!
Escola como inutilidade: conversar nas diferenças, inventar, criar, pintar, ler, escrever, sonhar, compadecer-se com a dor do outro, assombrar-se diante das mazelas sociais, indignar-se com a desigualdade, ler e questionar o mundo e as injustiças...
Conversar com esse modo intempestivo de ver a escola nos possibilita pensá-la fora de essencializações, como espaço em aberto para o exercício, a experienciação de diferentes usos, modos de ser, estar, viver, habitar, existir. Escola como relação. E é exatamente essa relação que faz dela algo plural, múltiplo: há muitas escolas na escola (KOHAN, 2013). Sua dimensão relacional, seu caráter acontecimental e criador são processo, movimento e tessitura cotidiana. Não estão dados a priori, porém hão de ser construídos e gestados no próprio movimento minúsculo de nos inventarmos a nós mesmos na interação/tensão com o outro e, nessa dinâmica, reinventar os espaços habitados e as próprias relações tecidas.
Fazer escola nas escolas, como nos fala Kohan (2013), por conseguinte, é um processo em cujo cerne está, desde nosso ponto de vista, o desafio da descolonização (FANON, 2015) das relações, do pensamento e do próprio ser. Afirmar o que tem sido negado: que todos e qualquer um pensam, têm voz, são hoje, aqui e agora! Um compromisso ético e político com a experiência da alteridade, com a escuta das diferenças e com os oceanos e rios de histórias e trajetórias singulares que o outro carrega, com suas formas de ver e compreender, como invita a sentir-pensar a professora Vanderléa Oliveira, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, também no Rio de Janeiro:
Em um dos meus primeiros dias de trabalho, propus aos alunos a leitura de um livro de sua escolha e a produção de um texto resumindo a história lida. Durante a atividade, Leonardo, um menino de dez anos, me perguntava insistentemente sobre vários livros que tirava da estante:
- Professora, a senhora conhece esse livro?
Literatura infanto-juvenil é uma das minhas paixões e, por acaso, eu conhecia os livros que ele me mostrava. Fiz alguns comentários com o intuito de incentivar a leitura, mas o interesse do aluno parecia se dissipar muito rápido e, devolvendo o livro à prateleira, me respondia sem o menor entusiasmo:
- Ah, tá...
Depois da cena se repetir algumas vezes, eu estava tentando entender o que havia feito de errado, quando Leonardo sinalizou que a questão era muito mais complexa do que minhas momentâneas hipóteses poderiam supor. Ele se recusou a participar da atividade e protestou:
- Para que eu vou contar a história do livro se a senhora já leu?
Há décadas essa pergunta permanece ecoando em meus ouvidos. O questionamento do menino envolve aspectos importantes das práticas escolares. Temos um conflito entre a lógica da criança e a lógica da professora. (Arquivo de pesquisa).
Ressoa, na narrativa da professora, o educativo como responsabilidade amorosa com o outro, um compromisso ético com uma resposta a esse outro que nos interpela com sua existência, sua potência e afirmação, sua alteridade radical. Um amor atento, responsável e responsivo, afetivo e comprometido: implicado e empático. Não amor romântico, porém como capacidade de se comover com a dor que não arde em nossa pele, não viola nossa existência... Como possibilidade de olhar sem manchar o outro com nossos preconceitos e ignorâncias. Implicar-se com outrem, aproximar-se dele, olhar no olho, conversar, escutar, sair do lugar da utilidade... As relações, muito menos as educativas, não são utilitárias!
Lembramo-nos dos estudantes surdos: roubados do contato com uma língua comum em sua própria casa, para muitos deles, a escola é seu lugar. É onde falam e podem ser compreendidos, onde têm voz, onde podem conversar, falar de seus medos, histórias, sofrimentos, dores, afetos, amores, sonhos para um outro que lhe escuta. Como o peixinho de Krenak, não esperam da escola nenhuma utilidade; vivem-na (a escola) e, no vivê-la, tornam-se outros de si mesmos!
Então, perguntamos: que política, senão políticas minúsculas, tecidas por meio de gestos mínimos, poéticos e políticos, enquanto polinização de vida e pluralização de mundos que suspendem a necessidade de utilidade, de aplicabilidade em todas as ações e propostas vividas? Gestos políticos como possibilidade de suspensão e reinvenção das políticas curriculares nas singularidades dos cotidianos, a modo de experiência vivida com face, corpo, desejo?
Temos a sensação de que, sobretudo nesses tempos pandêmicos, tempos em que o horizonte, pintado de chumbo, insiste em soprar cinzas de utopia e esperança, precisamos apostar e cultivar um certo grau de inutilidade. Já vimos e nos saturamos com tantos para-quês, porquês... Educação para o trabalho, para a vida (compreendida como mercado), para a cidadania, para, para, para... Amanhã, depois, em outro momento... Quase como se o presente fosse um dispositivo para a urgência da utilidade, da produção desenfreada: não basta uma roda de conversa, uma ida ao parque, uma atividade exploratória no terreno da escola. Se não há produto resultante, dá a impressão de que o vivido é inútil, não serve para nada, não produz efeitos, não dá lucro (aprendizado)...
Por isso, homenageamos a inutilidade − suspensão da pressa em fazer do outro e da sua experiência de vida outra coisa de si mesmo, de civilizar, explicar, guiar. Chega de sermos educadores! A vida, em sua pulsão e acontecer, convida-nos a sermos educação. E ser educação talvez seja inútil, porque não serve para nada: é ser escuta, pergunta, convite, herança e testemunho. E é essa inutilidade que buscamos afirmar, inspirados na narrativa de Renata Dionysio, também professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos:
Aprendemos aquilo que nos afeta de alguma forma, seja pelo amor ou pela dor. E tem algo que mobiliza esse processo, a curiosidade, o desejo de ler o mundo. Não se trata de apenas uma leitura verbal... Mas trago aqui as diversas matrizes da linguagem... ler imagens, ler expressões faciais, ler ambientes, ler palavras que são postas e apresentadas numa atmosfera de significações.
Professora, atuando na escola desde 1997, comecei a fazer um levantamento de quantas vezes trouxe a leitura de mundo de forma a despertar a curiosidade dos meus alunos. Percebi que muitas vezes misturei os conteúdos curriculares dentro de um liquidificador e bati... vendo o furacão cinza se formar em seu interior, numa falsa esperança de ser “mais fácil” para eles engolirem... Tempos de olhar para dentro... em locais em que vivemos e nunca mais pisamos novamente.
E aí vejo brotar na minha Maria a matriz verbal na forma escrita nas águas da sereia Ariel...
...na forma de uma casa, com janelas e portas bem trancadas para o CORONA não entrar. Mas numa atmosfera de AMOR e ali está também ele... o furacão trazendo o verde, a cor da cura, dividindo espaço com um arco-íris e toda a sua potência.
(Arquivo de pesquisa).
Novamente, Masschelein e Simons (2013) nos instam a pensar. Apesar de reconhecerem a existência das problemáticas e dos fenômenos que obliteram a escola em sua potência de atenção e cuidado para com todos e qualquer um (desvalorização docente, falta de recursos e estruturas, acusações de toda sorte etc.), destoam quanto a suas causas. Para os autores, não se trata (ou não apenas) de um monstro exterior cujos tentáculos adentram as engrenagens da escola e a contaminam; antes, a domação tem a ver com a maneira como os sujeitos vivem, pensam e fazem escola, como se pensa e é pensada - e, portanto, praticada - a escola. Logo, as ações, políticas e processos que visam domar a escola ganham força capilarmente também no seu interior, forjadas no bojo de uma trama complexa que envolve sociedade, cultura, espaço-tempo, sujeitos e constituem nossas formas de ser e pensar - neste caso em especial, o educativo.
Para os referidos autores, a escola, em sua acepção grega, é uma intervenção democrática no sentido de que “cria” tempo livre para todos, independentemente de antecedentes ou origem, e, por essas razões, instala a igualdade (p. 105, grifos dos autores). Instalar a igualdade, em sua leitura, significa: apostar e assumir a potencialidade de todos e qualquer um para conhecer, saber, falar, pensar, comungar do educativo e da escola como espaço-tempo para se desligar das necessidades econômicas e sociais impostas sobre seus corpos e existências e poder conhecer, saber, falar, pensar, experimentar coisas, objetos e experiências que não lhes são “destinadas”. Em outras palavras, aumentar cada mundo individual e singular na relação com outros mundos individuais e singulares: construir e partilhar, partilhar e construir um mundo comum: educação como comunidade.
Nesse ponto de vista, insistimos, a escola (como criação da polis grega e não instituição moderna) instauraria a democracia como verificação da igualdade (RANCIÉRE, 2011), isto é, como ponto de partida: um espaço-tempo de escuta, atenção, partilha, de pensar e fazer coisas com o outro, de inscrever a própria voz, falar em nome próprio, independentemente de origem social, sexo, cor, local de nascimento... Escola, portanto, como espaço-tempo de indagação, de atenção a si e aos outros, de ampliação de repertórios particulares, de diferenças. Portanto a escola teria, em seu projeto, todos os ingredientes para afrontar o desejo de manutenção das relações de poder, justificadas pelo “assim” das coisas, provocando reações sociais internas e externas, pró e contra sua tônica comunista (no sentido político de ser - comum - para todos e qualquer um) (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013).
Dessa forma, a releitura ou a leitura “moderna” da escola seria, ela mesma, um exemplo da tentativa de dissipar a renovação, o potencial radical e a “capacidade de começar” que ela (a escola) oferece por meio de toda sorte de normativas, impositivas, cartilhas, manuais, da atribuição de papéis e funções que não são nem poderiam ser da escola (como a solução da desigualdade, por exemplo), da pauperização e desvalorização do professor, do investimento na criação de uma cultura de competição e hierarquização entre escolas e professores, entre muitos outros modos de (tentar, sempre tentar...) domar a escola e os docentes.
Como sujeitos históricos, ainda que construtores de um mundo novo, ainda que obreiros de uma possível renovação, tal qual sugerem Masschelein e Simons (2013), muitas de nossas práticas também alimentam uma lógica da aceleração, da competição, do individualismo: as provas individuais e sem consulta como verdades absolutas, as brincadeiras e os jogos competitivos, a negação da ajuda como possibilidade de tessitura do saber, a necessidade de toda aula resultar em algum “dever feito”. Um retrato da lógica individualista, acelerada e acumulativa do mercado é também, de alguma maneira e em alguma medida, um retrato da escola, de muitas escolas, das escolas que produzimos com nossos corpos! Daí a necessidade do “fazer sozinho”, da pressa em apresentar conteúdos e mais conteúdos, de tantos e tantos trabalhos “valendo ponto”, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, seja no ensino médio, na graduação ou mesmo no doutorado: tantos e tantos textos para ler e fazer resumo porque sem um produto não há aprendizagem, tantos seminários para mostrar que o investimento das aulas resultou em algum “lucro” do ponto de vista do conhecimento... O pensar juntos, o colocar em xeque quem somos e pensamos não serve; está fora desse léxico.
No entanto sempre há mais, muito mais do que podemos compreender e pensar. Enquanto plural, a escola é isso e muito mais que isso. Como as narrativas docentes nos sugerem, a escola é ecologia de práticas, experiências e afetos. Em seu ventre, pluralidades, diferenças, heterogeneidades e vidas também estão pulsando e brotando o tempo todo. Estamos, nela, sempre escrevendo, lendo e compondo textos - sejam eles escritos, sejam eles imagéticos ou a própria vida, ao modo como o professor André Cordeiro, do INES, nos toca:
Tenho dificuldade de pensar em alguma experiência dentro ou fora da escola que prescinda da leitura. Vejo-nos (e o nós aqui somos os seres humanos) como perseguidores inveterados do sentido. Qualquer manifestação linguística (isto engloba qualquer manifestação, afinal: o que escapa à linguagem?) é lançada no fluxo desse rio de enunciados que corre a nossa volta e, imediatamente, ao encontrar interação tem sobre si atribuída um sentido. E a atribuição de sentido é, sem exceção, feita a partir de leituras.
Acho que para poder trabalhar com a leitura dentro do ambiente escolar é importante considerar que as interações são únicas, inapreensíveis e irrecuperáveis, dessa forma, o resultado da leitura já nos escapa no segundo seguinte da sua existência. Essa compreensão dificulta manter-nos nos instrumentos costumeiros da rotina escolar. Apreender a leitura, avaliá-la, esperar respostas previamente são caminhos que não encontram o que entendo como leitura.
Por isso, respondendo à pergunta feita, não considero a escola sem leitura e sem escrita porque não considero interação sem esses dois exercícios. Pra mim, a pergunta a ser feita é quais leituras devemos provocar, direcionar, incitar nas escolas. (Arquivo de pesquisa).
O que temos lido, escrito, conversado e pensado na escola? Que textos e linguagens têm habitado nossas experiências educativas com os estudantes? Estão a serviço da vida e sua inutilidade ou do trabalho e da imposição de uma função imediata? Podemos fantasiar e criar na escola? Que gestos políticos polinizam nossas práticas?
4 INCONCLUSÕES
Retomamos, para encerrar momentaneamente o texto, duas perguntas já realizadas anteriormente: em que medida tem sido a vida (e não o mercado ou o trabalho) a tônica de nossas preocupações, ações e políticas educativas? Em defesa de quem e desde que experiências, narrativas e vozes tais políticas têm sido escritas?
A educação, em especial nesse contexto pandêmico, lança-nos tais indagações a todo tempo. Narrativas docentes, experiências e acontecimentos vividos nas salas de aula e nas pesquisas-conversações que vivemos, com estudantes e docentes, têm nos revelado a urgência de uma educação grávida de vida, guiada pelo comum, pela relação nas diferenças.
De alguma maneira, o esgarçamento das políticas macro têm nos sinalizado a potência dos gestos políticos enquanto possibilidade para fortalecer e polinizar experiências educativas e curriculares minúsculas, gestadas desde os cotidianos, em redes e constelações horizontais, a modo de uma nova política. Uma política mínima? Inútil? Educação como gesto político, como nos ensina Paulo Freire (1996)? Por que não?