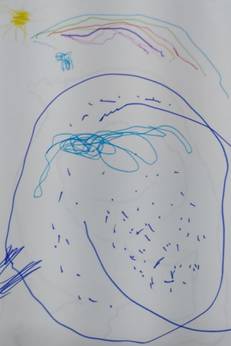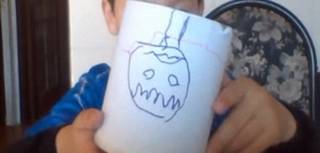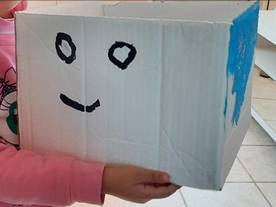Introdução1
Vivenciar o cotidiano escolar da Educação Infantil não é uma tarefa fácil. Rotinas, imprevistos, tempos, lugares, olhares, cheiros, afetos, permeiam esse espaço. Nesse ritmo frenético, parece ser difícil parar para pensar filosoficamente. Mas, o que é parar para pensar? O que é parar para pensar sobre algo? Para expor o pensamento? Para analisar? Será que é possível pensar em outras formas de vivenciar o cotidiano da Educação Infantil? Será que a proposta pensada e desenvolvida pela professora está ‘afetando’ as crianças? Ou só está passando por elas? Como o saber docente se modifica a ponto de construir espaços éticos de relações dentro da Educação Infantil?
É difícil pensar na filosofia, que nos ensina a suspeitar e ser resistência ao instituído, caminhando em parceria de uma escola que tem como propósito instruir, prescrever e moldar corpos dóceis (Foucault, 1999). Mas não é impossível! Trata-se de uma infinita tarefa, onde o aprender envolve a abertura ao que carece de ser pensado, problematizado, e é isso que nutre o texto aqui apresentado.
Quando falamos sobre a escola normalmente refletimos sobre seus tempos e espaços, as disciplinas e os conteúdos, os objetivos almejados, habilidades e competências que resultariam em aprendizagem, etc. Pouquíssimas vezes abordamos os modos de existência daqueles que frequentam a escola. E é este o convite que fazemos para as leitoras e os leitores, apresentando-lhes também o objetivo principal desse texto, oriundo de uma pesquisa mais ampla e composta pelo Grupo de Estudos em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia (GEECAF/FURG): exercitar a escuta ao que as infâncias têm a nos dizer sobre o que pensam sobre o mundo e as suas relações com o planeta. Aqui, apostamos na possibilidade de pensar a filosofia na escola entendendo e considerando a potência da suspeita, da desconfiança àquilo que é comum aos olhos de todos, do questionamento onde há afirmação ou negação. Partindo desse ponto, acreditamos que a filosofia se fortalece da insatisfação e da dúvida que surge em nós quando questionamos as normas estabelecidas e as práticas socialmente imperantes. A partir da filosofia podemos pensar em novas possibilidades para a escola, diferentes daquelas vigentes e tensionar a naturalidade com que vemos as coisas, abrindo brechas à interrogação, a busca de outras opções e sentidos.
Distantes de uma educação que nos ‘prepara para o futuro’, podemos pensar em viver a infância pela experiência, como novidade, como multiplicidade; a partir da criação de situações convidativas à experiência e ao pensamento inusitado. “Se há algo a se preparar por meio da educação, é a não deixar a infância, a experiência” (Kohan, 2011, p. 248). Relacionando escola, infância, filosofia e Educação Ambiental, acreditamos que todos podem pensar por si mesmos, inquietar-se, transformar-se, tornando-se resistência e tensionando o conformismo. A infância nos mostra que não há um caminho predeterminado a seguir. É a possibilidade de devires múltiplos, de imprevisibilidade. Ela é desequilíbrio, multiplicidade, diferença, experiência!
Ao longo das próximas linhas, buscamos enfatizar que ao praticar filosofia com crianças no ambiente escolar temos a oportunidade de questionar a própria escola, as formas de subjetivação que ela afirma e as verdades que envolvem o campo da Educação Ambiental no espaço escolar. Quando exercitamos o pensamento - para além da busca por respostas - aprendemos a questionar as práticas que nos levam a pensar da forma como se pensa.
O fato de a Educação Ambiental e as infâncias estarem constantemente atreladas a uma orientação pedagógica direcionada a preservação e a modos prescritivos de como cuidar do planeta é algo que nos inquietava, nos causava estranhamento (Henning, 2017). Dessa forma, partimos de uma escuta sensível ao que as crianças queriam nos dizer - e não uma escuta a partir de uma proposta pedagógica, tendo algum objetivo específico de ‘onde se queria chegar’. Talvez seja desses espaços mais provocadores e menos objetivos que a educação careça... Por mais difícil que seja, não é impossível almejar educações ambientais que fujam da normatização e da conscientização. Apostamos em outras experiências, rearticulações de saberes, resistência às tentativas de curricularização e de delimitação do campo da Educação Ambiental.
Almejamos pensar a Educação Ambiental a partir de novas possibilidades, sem prescrições ou manuais a serem seguidos. Nós a enxergamos como uma potente forma de resistência, de criação, de problematização acerca da forma que estamos acostumados a agir e conviver com/na natureza. Assim, através de práticas que desacomodaram o nosso olhar, já condicionado a aceitar a Educação Ambiental apresentada, surgiram instigantes e desafiadoras educações ambientais.
Assim, Buscamos mostrar que é possível a criação de alguns espaços de respiro na escola. E nós encontramos isso na articulação entre infância, filosofia e Educação Ambiental. Não estamos aqui prescrevendo uma forma de romper com uma racionalidade já bastante difundida no campo da Educação Ambiental, mas relatando nossa experiência no encontro com as fissuras que criamos no cotidiano escolar. A nossa aposta é a partir da filosofia com crianças.
Diante disso, esse texto foi dividido em quatro partes. Na primeira parte apresentamos às leitoras e aos leitores a introdução ao tema de estudo e o objetivo da pesquisa realizada. Ao longo da segunda parte, discorremos sobre escola, Educação Ambiental, infância e filosofia. Além disso, as leitoras e os leitores encontrarão a metodologia, a justificativa e os contornos investigativos realizados. Na terceira parte, discorremos sobre escola e os exercícios de pensamento que surgiram no encontro com as experiências filosóficas. Na quarta e última parte, encontram-se as considerações finais da pesquisa.
Escola como espaço de criação, inventividade e potentes exercícios de pensamento no encontro com experiências filosóficas
Distrair-se é a possibilidade de tornar-se sensível àquilo que temos aprendido a tornar-nos impermeáveis (Kohan, Olarieta, & Wozniak, 2012, p. 176).
A filosofia acontece do encontro com outros olhares amigos, a partir dela podemos conhecer novas perspectivas para entender e transformar as formas como vimos nos constituindo. Kohan (2012) nos ensina a não separar a vida do corpo e do pensamento. Segundo ele “[...] aprendemos que pensar é tocar e deixar-se tocar pelo outro” Kohan (2012, p. 40). Pensar ocasiona acontecimentos no pensamento.
O mesmo autor afirma que pensar sobre o pensamento é uma questão filosófica (Kohan, 2011). Porém, o pensamento encontra-se pouco valorizado e incentivado socialmente; apesar de inúmeros discursos pedagógicos enfatizarem sua importância. Nessa perspectiva, percebemos que na escola geralmente só se pergunta sobre o que se pode responder. Como se o pensar envolvesse a busca por soluções. Quando as encontramos, fim! Tudo está resolvido!
Aqui, convidamos as leitoras e os leitores a seguir um ensinamento de Michel Foucault (2002, p. 24): “É preciso que nos inquietemos diante de certos recortes ou agrupamentos que já nos são familiares”.
Constantemente, nós professoras e professores, pensamos na Educação Ambiental vinculada a ideia de que a criança precisa ser conscientizada, de que o futuro do mundo é a infância. É interessante observar que normalmente usamos o verbo futuro para pensar a criança - o cidadão de amanhã - como se hoje ela ainda não fosse cidadã. A Educação Ambiental voltada às crianças, geralmente parte de práticas pedagógicas que direcionam condutas e definem hábitos com relação aos cuidados e a preservação de nosso planeta (Henning, 2017).
Sabemos que há uma pluralidade de definições e conceituações que permeiam o campo da Educação Ambiental. Porém, precisamos considerar o fato de que inúmeros enunciados e visibilidades subjetivam o pensar e o agir nessa área e diretamente definem e produzem ‘sujeitos verdes’ (Guimarães, 2012), conscientes e preocupados com o seu papel na constituição de um mundo sustentável.
Esse é o nosso olhar, enquanto pesquisadoras pertencentes ao GEECAF, com relação ao campo da Educação Ambiental; é a forma como entendemos essa construção histórica. É uma ‘educação ambiental’ dentre muitas. Por mais difícil que seja, não nos parece impossível almejar educações ambientais que fujam da normatização e da conscientização. Aqui, apostamos em outras experiências, rearticulações de saberes, resistência às tentativas de curricularização e de delimitação do campo da Educação Ambiental. Assim, através de práticas que desacomodaram o nosso olhar - já condicionado a aceitar a Educação Ambiental apresentada - surgiram instigantes e desafiadoras educações ambientais.
Sabemos que não somos obrigadas/os a seguir as atitudes e posturas que determinam o modo como ‘devemos’ cuidar do meio ambiente. Mas estamos tão imersas/os a esses discursos que acabamos sendo subjetivadas/os a ‘nadar nessa correnteza’, que teoricamente leva à construção de uma sociedade sustentável, definindo quais ações e como nos comportar frente aos problemas ambientais. Haverá aí espaço para criação de outros modos de pensar?
Junto ao nosso grupo de estudos, realizamos experiências filosóficas2 que possibilitaram situações de escuta atenta com um grupo de crianças, com idades entre quatro e cinco anos, em uma escola municipal do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, elaboramos um eixo de experiências filosóficas (com três encontros) e partimos da escuta infantil, com uma mínima organização de propostas elaboradas por um grupo de estudos que se dedica com cuidado e responsabilidade ao campo da Educação Ambiental.
A partir dos encontros coletivos, exercitamos o pensamento sobre o campo da Educação Ambiental articulado a filosofia com crianças, partindo da provocação de experiências filosóficas. Com isso, pensamos, junto às crianças, em possíveis educações ambientais que se constituíam a partir das vivências inusitadas que surgiam na escola, nas minúcias do cotidiano, nas possibilidades de criação junto às infâncias.
Frente a dura e triste realidade que estamos vivenciando no mundo com relação à pandemia Covid-19 deparamo-nos com escolas fechadas para a realização das experiências, com o intuito de preservar a saúde de todos que a frequentavam. Muitas escolas brasileiras vinham desenvolvendo as atividades escolares e o fortalecimento dos vínculos entre professoras, professores e crianças de forma online, a partir de encontros virtuais e propostas de atividades para serem realizadas em casa. Diante deste cenário, a realização das experiências filosóficas, que ocorreu no mês de outubro de 2021, aconteceu através do ensino remoto3 como alternativa para a continuidade dos trabalhos escolares; estando cada criança em sua casa.
As experiências filosóficas foram pensadas para acontecer em três encontros ao longo de uma semana, partindo de elementos que disparassem o pensamento das crianças. Nossa intenção era a de potencializar espaços de experiências e criação partindo de ‘disparadores do pensamento’4 como: poesias de Manoel de Barros, Mario Quintana; produções artísticas, como fotografias produzidas por pesquisadoras do GEECAF, obras de arte de René Magritte e Paul Klee; literatura infantil, como Ruth Rocha, Jader Janer, Rodi Núñez e Alejandro Magallanes. Para a experiência filosófica que narraremos nesse texto, utilizamos uma literatura infantil que será descrita mais adiante.
Essas intervenções aconteceram com o intuito de permitir que as crianças expressassem livremente seus pensamentos sobre as coisas e, através de uma escuta mais sensível, conhecemos as novas possibilidades que elas nos apresentaram. Provocamos perguntas, problematizamos e levantamos questões que nos convidavam à conversa, rompendo com a postura de quem ensina e de quem aprende, sem negar o que somos. Junto às crianças, pensamos em desvios que possibilitassem novas conexões e nos levassem a problematizar alguns sentidos afirmados pela escola contemporânea.
Os processos teóricos e metodológicos desse estudo tomam assento nas perspectivas pós-críticas em Educação. Partimos do entendimento dado por Tomaz Tadeu da Silva (2007) para compreender os estudos pós-críticos. Esse é o termo que o autor faz uso para evidenciar o pós-estruturalismo no campo educacional. Tais estudos nos permitem ver as contribuições de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari dentre outros autores no campo da Educação. “[...] as teorias Pós-críticas, ao contrário das acusações que lhes são feitas, ao deslocarem a questão da verdade para aquilo que é considerado verdade, tornam o campo social ainda mais politizado. A ciência e o conhecimento, longe de serem o outro do poder, são também campos de luta em torno da verdade” (Silva, 2007, p. 146).
Assim, compreendendo que a concepção de política vai além de seu sentido tradicional, esses estudos incomodam e olham com desconfiança para determinados conceitos como alienação, libertação, autonomia. O conhecimento é parte inerente do poder e, este último, transforma-se, mas não desaparece. Pelo contrário, ele está em toda parte, é multiforme. As discussões a respeito de cultura, modos de vida e relações de poder permeiam tais teorizações e nos jogam ao exercício da suspeita. Essa é a filiação teórica que assumimos nessa investigação, tendo Michel Foucault como um dos nossos intercessores. Desse modo, tendo coerência com nosso campo teórico, buscamos compreender se as experiências filosóficas que propomos às crianças da Educação Infantil poderiam possibilitar formas outras de ser e pensar, além de experimentar formas inusitadas de viver a escola.
Evidenciamos que as experiências filosóficas foram sendo tramadas a partir das experiências vividas pelas crianças, em parceria da professora pesquisadora. A pesquisa se constituiu como um processo que almejava o imprevisto, que foi pensado e repensado, através de conversas, exercícios de pensamento e nos momentos de silêncio. A aposta foi nesse encontro, no que pode a escola quando estamos abertas e abertos à escuta das crianças. Nosso desejo envolveu dar passos em direção do perigo da suspeita, caminhar sacudindo a quietude que nos habitava com relação às verdades estabelecidas na escola, sobre as infâncias, com relação aos ensinamentos ambientais cotidianos que ‘conscientizam e solucionam’. Como Foucault (2004, p. 295). nos ensina, é preciso duvidar das certezas e “[...] tornar difícil os gestos fáceis demais”.
É daí que o conceito de problematização em Foucault (2004), atrelado ao conceito de hipercrítica em Veiga-Neto (2020), tornaram-se nosso exercício metodológico. Articulando-os fortalecemos a possibilidade de provocação ao pensamento e a escuta infantil. O pensamento que tem na problematização seu elemento pulsante, estranha, desconfia, questiona, desconstrói e cria outras possibilidades. Trata-se de um exercício crítico que não tem como meta a solução de um problema. Envolve muito mais uma torção das verdades estabelecidas, uma conversão do nosso pensamento. Fortalecendo a potência de criação, buscamos pensar em outras educações ambientais que permeiem a vida, que a problematizem. Carecemos de novas criações e ao ouvir atentamente o que as crianças tinham a nos dizer, a coragem para pensar pulsava fortemente, tensionando e rompendo com as verdades estabelecidas.
Veiga-Neto (2020, p. 26) chama de hipercrítica “[...] a crítica foucaultiana quando ela se volta sobre si mesma, se volta sobre os fundamentos em que ela mesma se apoia para funcionar como crítica”. Trata-se de uma crítica radical, provisória, nômade e inacabada. Também é vista como uma potente ferramenta para a compreensão do mundo e de nós mesmos.
Partir da hipercrítica e da problematização como questão metodológica para pensar na complexidade cotidiana da escola e os ensinamentos ambientais que conduzem as condutas infantis, nos possibilitou compreender as relações entre esses temas e a reflexão sobre a possibilidade de criação de outras relações com os tempos, os saberes, as infâncias e as novas e potentes educações ambientais possíveis.
Em nosso primeiro movimento junto às crianças utilizamos como disparador do pensamento o livro de literatura infantil O menino que colecionava lugares, de Jader Janer (2016). Por meio dele, conhecemos um menino que adorava viajar e levar consigo um pedacinho dos lugares nos quais passava. Ao explorar essa história, buscamos proporcionar para as crianças exercícios de pensamento sobre suas relações com o espaço em que se situavam, com suas famílias, o meio ambiente e a escola.
Ao pensar sobre o sentimento de pertencimento a estes espaços, buscamos compreender que sentidos as crianças atribuíam aos lugares os quais transitavam, principalmente o espaço escolar e seu entorno. Será que as crianças se sentiam realmente pertencentes ao espaço escolar? Será que elas se sentiam integrantes do mundo? Enquanto professoras e professores, qual o nosso papel nesse processo? Como as infâncias experienciavam a escola? O que elas pensavam sobre a escola? Como elas estabeleciam suas relações com o espaço em que viviam? O que elas pensavam sobre ele? O que elas pensavam sobre os lugares por onde passavam?
Aceitando o convite de Lima (2021, p. 300) gostaríamos de pensar em formas de “[...] inverter a lógica que prescreve o lugar das infâncias na escola, ou ainda os sentidos da escola para as infâncias”. Neste sentido, consideramos fundamental olhar com estranheza para essas questões, buscando desalinha-las do já estabelecido e nos questionando sobre o que as infâncias nos provocavam a pensar.
Os autores Kohan, Masschelein, e Simons (2021) nos fazem refletir sobre o que faz uma escola ser ‘a escola’, de um ponto de vista educacional. Muito nós já sabemos sobre a história da constituição escolar e das críticas que a escola recebe até os dias atuais. Mas, os autores nos fazem pensar se essa crítica não se trata de um sentimento de desvalorização acerca da importância da escola; “[..] como se quiséssemos esquecer a escola, e como se não nos agradasse sermos lembrados do fato de que o que somos agora pode ter de algum modo dependido da escola” (Kohan et al., 2021, p. 165).
Sendo assim, gostaríamos de explorar as possibilidades que as experiências filosóficas nos proporcionaram no espaço da escola; acreditando na potência deste espaço. Espaço de encontros, de vozes, de escuta, de possibilidades e exercícios de pensamento. A partir da realização das experiências filosóficas, buscamos proporcionar às crianças uma relação diferente com a escola, partindo da problematização, apresentando questões que lhes interessavam e possibilitando modificá-las justo porque outros interesses entravam em jogo.
Nesse movimento, tiramos a centralidade da relação específica ao saber, a busca por respostas e resultados que tanto permeiam o espaço da escola e exercitamos nosso pensamento para problematizar aspectos relativos ao cotidiano escolar, as formas rotineiras que a Educação Ambiental é abordada nesse espaço e os discursos e verdades que a compõem. Assim, convidamos as leitoras e os leitores para, com muita sensibilidade e imaginação, adentrarem o cotidiano de uma turma que viveu com a pesquisadora as possibilidades que se tratam quando a filosofia é assumida como potência do pensamento.
Experiências filosóficas: exercitando o pensamento e sentindo “coceirinha” nas ideias
Aqui, buscamos por outras maneiras de estar e se relacionar com os saberes e com as crianças, considerando que as experiências filosóficas aconteceram em um tempo e espaço bastante distintos dos que permeiam a escola.
Jorge Larrosa (2021) discorre sobre experiência e nos ajuda a pensar sobre o quanto ela é pessoal e intransmissível. Assim, não podemos deixar de enfatizar que não há como traduzir inteiramente as experiências vividas. Buscamos descrever aqui, tão minuciosamente quanto possível, as vivências que surgiram pelas experiências filosóficas com as crianças. Dessa forma, o que propomos é uma experiência de leitura e pensamento que provoque as leitoras e os leitores a questionar as verdades que permeiam a escola, seu tempo cronológico e a possibilidade do tempo calmo da filosofia neste espaço. E, quiçá, promover outros olhares e ideias sobre o que se observa, ao que é ‘comum’ ao nosso olhar.
Quando vivenciamos o cotidiano da escola, parece difícil fugir de palavras como organizar e planejar. Mas aqui, as usamos de outros modos e pedimos para que as leitoras e os leitores as entendam a partir de outros sentidos. Quando falamos em planejamento e organização, buscamos pensar em disparadores do pensamento que instigassem as crianças a exercitar seus pensamentos; além disso, partimos de um fio condutor das experiências filosóficas: o meio ambiente. Podemos dizer que nosso ‘planejamento’ almejava o imprevisto.
Por mais que estivesse escrito em nosso planejamento que as atividades estavam direcionadas para ser desenvolvidas em três encontros ao longo de uma semana, destacamos que os dias em que as experiências filosóficas aconteceriam, poderiam sofrer variações conforme a vontade das crianças e o desenrolar das discussões dos encontros. Ou seja, se em um determinado momento fora do planejamento surgissem exercícios de pensamento sobre as atividades e discussões realizadas, certamente não deixaríamos de explorá-las junto às crianças. “A linguagem pedagógica que temos em mente busca dar voz à experiência ‘enquanto’ aprendizagem escolar” (Simons & Masschelein, 2021, p. 43, grifo dos autores). Mesmo que houvesse uma organização de momentos mais pontuais, a filosofia estava presente nas manhãs do grupo de crianças, pois ela fazia parte do cotidiano, estava imbricada às discussões e exercícios de pensamento da turma. Não havia a intenção de conduzir uma aula específica de filosofia; longe disso, nas interações e conversas surgiam possibilidades de experiências filosóficas. E a professora pesquisadora estava atenta a esses momentos para conduzir, questionar ou somente observar.
Nossa intenção era possibilitar exercícios de pensamento, a partir de perguntas que mobilizassem para que as crianças falassem; cuidando para não fazer perguntas que induzissem respostas ou definissem condutas a serem seguidas. Acreditamos que esse foi um dos maiores desafios encontrados: aprender a exercitar o pensamento, enquanto professora, para fazer perguntas que realmente quisessem escutar o que as crianças tinham a dizer, e não direcionar perguntas onde elas falassem sobre aquilo que a professora gostaria de escutar.
Quando da primeira experiência filosófica com as crianças, colocamos em movimento nossas relações com o local em que vivemos e o mundo que habitamos. O menino que colecionava lugares contava a história de um menino que adorava viajar e conhecer novos lugares. Ele carregava consigo uma lata grande para ir guardando ali dentro um pedacinho de cada lugar que conhecia, pois tinha medo de esquecê-los. Com o tempo, sua lata foi ficando cheia demais e ele se perguntou o que acontecia com os lugares depois que ele tirava algo deles. Então, o menino voltou a esses lugares e percebeu os espaços vazios que havia ali. Ele encorajou-se a abrir sua lata e devolver cada lembrança ao seu lugar, mesmo com receio de acabar esquecendo-os. Porém, não foi o que aconteceu; ele lembrava de cada cantinho que conheceu. E assim seguiu viajando e carregando sua latinha, mas sem guardar nenhum pedaço dos lugares que conhecia. No final da história, o menino entendeu que os lugares ficavam guardados dentro de nós, em nossas memórias e pensamentos e nos nossos corações.
A Figura 1 trata de exemplificar uma expressão artística realizada por uma criança5, representando o menino que colecionava lugares.
Ao contar essa história, tivemos a possibilidade de proporcionar às crianças exercícios de pensamento sobre as relações com seu entorno, com o espaço em que estavam situadas, sobre suas relações com a família e com o meio ambiente. A própria relação com o seu corpo tem a ver com o espaço em que se vive, com o cuidado de si, com o cuidado com o outro.
Os autores Massey e Keynes (2004) preocupam-se em como podemos pensar o espaço na contemporaneidade e aqui convidamos as leitoras e os leitores para exercitar o pensamento sobre as relações que as crianças estabeleceram ao longo das experiências filosóficas, com o espaço no qual fazem parte, seja na escola, no seu bairro, sua rua, com sua família, com seus amigos. Esses autores apresentam três aspectos que podem conceitualizar o espaço: ele é produto das nossas relações e constitui-se através de interações; implica a existência de pluralidade; está sempre em movimento, nunca está finalizado.
Assim, nesta forma de imaginar as coisas, o espaço é sem dúvida um produto de relações (primeira proposição) e, por ser assim, deve ser também multiplicidade (segunda proposição). Entretanto, estas não são absolutamente relações de um sistema coerente, fechado, dentro do qual, como se diz, ‘tudo está (já) relacionado com tudo’. Neste modo de imaginá-lo, o espaço pode não ser, nunca, aquela simultaneidade completa na qual todas as interconexões foram estabelecidas, e na qual tudo já está interligado com tudo (Massey & Keynes, 2004, p. 9, grifo dos autores).
Dessa forma, ao discorrer sobre a conceitualização do espaço, os autores nos convidam a imaginá-lo como produto de inter-relações, multiplicidade e em constante processo de devir. Trata-se do reconhecimento do espaço como produto de interações, fugindo da visão fragmentada que o permeia tradicionalmente.
Se sentir pertencente a determinados espaços envolve os laços criados com o meio no qual fazemos parte. Pensando na escola, se a criança não se sentir pertencente ao espaço escolar, não faz sentido para ela estar ali. Trazemos como exemplo o período de inserimento, nos primeiros contatos da criança com a escola. Para muitos, esse é um período bem difícil, bem delicado, pois ainda não existe vínculo com a escola, a professora e os colegas.
Dessa forma, pensamos sobre o significado dos espaços a partir das vivências que temos neles. É a experiência vivida que dá significado ao lugar. Sendo assim, “[...] o espaço também contém, sempre, um grau de inesperado, de imprevisível.” (Massey & Keynes, 2004, p. 17).
E foi neste movimento de interação e imprevisibilidade que percebemos o quanto as crianças estabeleciam relações singulares com os espaços nos quais transitavam; em casa, no caminho até a escola, no cotidiano da sala de aula, nos mais variados espaços por onde elas circulavam. Assim buscamos, através de algumas perguntas mais específicas sobre a história, instigar as crianças a exercitar o pensamento sobre questões envolvendo o menino, os lugares que ele guardou na lata e fazendo aproximações com o meio ambiente em que as crianças encontravam-se. A partir daí, ao ouvir atentamente ao que as crianças nos disseram, buscamos criar um ambiente para que elas se sentissem confortáveis e percebessem que estavam sendo efetivamente ouvidas. A intenção era a de deixar que as crianças expressassem seus sentimentos com relação a história e aos aspectos relativos ao meio ambiente que ali apareciam, sem almejar uma avaliação de suas falas.
É importante ressaltar aqui, que essas conversas aconteceram tanto ao longo da contação da história quanto ao final dela, pois entendemos que em vez de prever os passos, seria mais interessante aproveitar os momentos vivenciados e deixar que as perguntas surgissem conforme os pensamentos e as vozes das crianças emergissem.
Durante os encontros online, muitas vozes se misturaram, vivenciando e percebendo novos sentidos. Eram as vozes das crianças, da professora pesquisadora, dos imprevistos da vida remota, dos silêncios que também compõem este espaço. Este último, inclusive, fundamental no exercício do pensamento. A partir do silêncio, temos a oportunidade de pensar sobre o que estamos experienciando, organizar as ideias e, mesmo que a gente ainda não se sinta confortável para falar, através do silêncio estamos enriquecendo nosso repertório.
Ao perguntar para as crianças se elas gostaram da história, uma delas disse que preferia que o menino tivesse um nome, pois era estranho conhecer uma história onde alguém não tinha nome: “Mas ele não tem nome, profe? Que estranho!” (criança 16). Quando questionados sobre o que poderíamos fazer para resolver isso, outro colega sugeriu que fizéssemos uma votação para que o menino ganhasse um nome: “O nome que a gente pode dar para ele, ele vai gostar. Por que se não, ele vai ficar sem nome. Que tal se a gente votar?” (criança 2).
Mas afinal, o que é uma votação? Nem todas as crianças sabiam o que iria acontecer, então quem achava que sabia tentou explicar: “Votação é quando a gente escolhe algo” (criança 3); “Isso, é quando fica bom para todo mundo” (criança 1). A partir dali, conversamos sobre esse “bom pra todo mundo”; onde a gente já havia visto votações e as possibilidades que poderiam surgir a partir de uma votação. O assunto rendeu o início do encontro, mas logo foi esquecido pela ansiedade em escolher um nome para o menino da história. E eis que após uma votação, o nome escolhido foi ‘Amigo’.
A partir disso, surgiram várias possibilidades: “É muito bonito o chapéu do menino. Eu queria colecionar esse chapéu”, sugeriu a criança 2; “Eu não consigo colecionar uma árvore”, disse a criança 1 ao lembrar que em uma parte da história o menino guardava uma árvore dentro de sua lata; “Eu acho que eu não coleciono nada!”, relatou a criança 3; “Eu coleciono as bonecas da minha irmã”, disse a criança 2 após ficar um pouquinho pensativa.
Ao conversar com a turma, a professora pesquisadora perguntou sobre os lugares que cada criança guardava dentro de si. Será que a gente pode colecionar lugares? Como? É possível tocar neles? Por que vocês acham isso? Se você pudesse colecionar lugares, onde os guardaria? Essas foram algumas perguntas iniciais para mobilizar o pensamento. A partir delas, outras surgiram... “O Amigo colecionava lugares em sua lata. Será que na turma havia algum (a) colecionador (a) de lugares? O que mais podíamos colecionar?” “Não dá para colecionar lugares, tá doida?”, disse a criança 1 demonstrando surpresa com a pergunta da professora pesquisadora. Quando questionado sobre o motivo dele achar que não se pode colecionar lugares, ele disse: “Ele só consegue colecionar coisas diferentes dos lugares que ele conheceu. Lugares não!”
Em seguida, as crianças trouxeram outras sugestões sobre o que o menino poderia colecionar dentro de sua lata: “Um dragão” (criança 2); “Ele pode colecionar um balde cheio de brinquedos” (criança 3); “E tu acha que ele consegue guardar tudo dentro da lata?”, perguntou o aluno 1; “Eu acho que sim”, disse a criança 3.
Em outro momento, as crianças foram convidadas a fechar os olhos e pensar em um lugar onde gostariam de estar/ voltar. Essa foi uma experiência onde todos experimentaram o silêncio e imaginaram lugares, sem dizer quais eram. Em vez disso, foram descrevendo o que havia ali, a partir de perguntas disparadoras: Tem pássaros voando? Tem mar? Há silêncio? Qual o barulho que há ai? Você enxerga pessoas? Ou animais? Ou o quê? É possível tocar em algo? O que você escolheria para colecionar desse lugar? “Tem sol no meu lugar. É um lugar colorido, com chuva e sol e no meio tinha um arco-íris” (criança 1); “Tem vento na praia. Tem árvores e conchinhas. Tem árvores que eu planto com a mamãe” (criança 2); “No meu lugar tem um lago com patos. Tem sol, chuva e um arco-íris por causa da chuva e do sol” (criança 3); “Tem peixinhos na minha praia também” (criança 2).
Após essa vivência, as crianças foram convidadas para expressar-se artisticamente através de desenho, colagem ou pintura sobre o lugar escolhido e o sentimento vivenciado naquele momento. Logo após, quem tinha interesse mostrou sua produção para a turma e falou sobre os detalhes e os sentimentos vivenciados ao longo do desenho, da colagem ou da pintura realizada. Logo abaixo, seguem as Figuras 2 e 3 com as expressões artísticas representando os lugares que as crianças escolheram.
O Amigo colecionava lugares em sua lata porque tinha medo de esquecê-los e essa questão deixou um colega muito pensativo. Quando a professora pesquisadora perguntou se ele gostaria de dizer o que estava pensando, ele falou: “O que é esquecer?” (criança 3) - e coçou a cabeça, num movimento como se realmente não estivesse entendendo os motivos do Amigo guardar os lugares em sua lata de memórias. A pergunta foi devolvida para as crianças e um murmurinho começou; todos queriam falar ao mesmo tempo e a professora pesquisadora precisou intervir e ajudar a proporcionar momentos de falas para todos. Cada um deu sua opinião sobre o que era ‘esquecer’: “Esquecer é de esquecer de uma coisa” (criança 1); “Professora, eu não sei o que é esquecer” (criança 5); “É quando vou dormir e faço xixi na cama!” (criança 2).
No próximo encontro, as crianças criaram suas latas de ideias, deram nomes para elas e pensaram sobre o que poderiam guardar dentro delas. Será que era possível guardar sentimentos na lata? Como podíamos fazer isso? Será que alguém achava que não dava? Por quê? Será que conseguimos guardar ideias e perguntas nas latas? O que mais podíamos guardar nela? Essa vivência rendeu algumas conversas e a maioria das crianças achou muito estranho pensar na possibilidade de guardar sentimentos e ideias dentro da lata. Elas rapidamente preferiram escolher outras coisas para guardar nas latas e, ao mostrar suas construções prontas foram explicando os desenhos que decoravam as latas de ideias de cada um: “Essa cor rosa é uma base e esse monstro aqui sequestrou uma criança. Esse escudo protege o Amigo se ele fazer uma volta nele e prender o monstro. Ai, não tem como se mexer” (criança 1). “Será que cabe uma história dentro da sua lata?”, perguntou a professora pesquisadora. “Eu acho que essa história é muito grande”, respondeu a criança 1. Logo abaixo, nas Figuras 4 e 5 podemos ver a caixa e a lata de ideias criadas pelas crianças.
E assim seguiu a conversa até as crianças escolherem o que gostariam de guardar dentro de suas latas: “A pracinha. Eu gosto do escorregador”, disse a criança 4. “Eu gosto do pula-pula”, disse a criança 5. Já a criança 1 escolheu outro lugar para guardar na sua lata: “A praia. Eu gosto da areia. Eu guardaria um tubarão”. Enquanto quase todas as crianças ficavam surpresas com essa resposta a criança 3 logo falou: “Eu não tenho medo de tubarão”. E, de repente, a criança 1 aparece na tela do encontro online com um pote cheio de conchinhas da praia e pergunta para a professora pesquisadora: “Tu quer colocar no ouvido? Dá para ouvir o som do mar”.
Assim foi delineando-se a atividade, através da condução das crianças. Como podemos observar, elas não acolheram muito a ideia inicial sobre escolher sentimentos, ideias e perguntas para guardar dentro de suas latas. Preferiram escolher seus lugares: a pracinha e a praia. Esses lugares permeavam o cotidiano desse grupo de crianças e eram espaços onde elas gostavam de estar, produziam suas experiências singulares e se sentiam pertencentes a eles. É o mar da Praia do Cassino, as conchinhas que surgem à beira-mar, a areia das dunas, o cheiro de mar e o vento forte que compõem a paisagem deste lugar; o escorregador da praça, o balanço e o campo que possibilita o pega-pega.
Pensando no fio condutor das experiências filosóficas - o meio ambiente - e buscando ouvir o que as crianças tinham a dizer sobre os lugares que transitavam em seu bairro, também surgiram questões ambientais mais pontuais. Por exemplo: Que perguntas nós podíamos fazer sobre o nosso bairro? Sobre os lugares que transitamos até chegar em casa? O que chamava mais a sua atenção ao longo do caminho que a levava até sua casa? O que dava pra ver nesse percurso? Do que mais gostava? Do que não gostava? Como podíamos pensar esses lugares? Qual desses lugares as crianças gostariam de guardar dentro de uma latinha, como fez o menino que colecionava lugares? O que cada um sentia enquanto lembrava dos lugares que transitava até chegar em casa?
A partir de perguntas disparadoras, como as descritas acima, buscamos provocar o pensamento das crianças acerca das formas como costumamos olhar o mundo e o espaço no qual fazemos parte, desfamiliarizando nosso olhar àquilo que já nos é comum e produzindo outras relações com o meio ambiente.
A autora Shaula de Sampaio (2019) levanta um questionamento interessante, ao pensar na possibilidade de possíveis deslocamentos na compreensão da forma como a Educação Ambiental vem sendo constituída. Ela questiona: “Que língua poderia ser ativada pela educação ambiental de modo a propiciar sensações e produções diferentes daquelas com as quais já estamos confortavelmente acostumados?” (Sampaio, 2019, p. 22). São questões assim que ressoam em nossos pensamentos e causam um impacto tão forte que abalam alguns significados da Educação Ambiental.
Imbricada às verdades consolidadas pelos saberes científicos, a Educação Ambiental vem sendo entendida como uma prática política que prolifera inúmeros discursos e ideais que direcionam condutas, definem hábitos e ressaltam a necessidade de uma preocupação com o futuro do planeta. Essa avalanche diária de enunciabilidades envolvendo o meio ambiente e prescrevendo formas sustentáveis de ser e agir na natureza é disseminada rapidamente, ressoando tanto na escola, quanto nos mais variados espaços educativos, nas mídias e nos documentos curriculares que orientam a prática educativa.
Nossa intenção nesta pesquisa não envolveu a delimitação do campo da Educação Ambiental. Inclusive porque há uma pluralidade de definições e conceituações que o permeiam. Porém, precisamos considerar o fato de que inúmeros enunciados subjetivam o pensar e o agir nessa área e diretamente definem e produzem ‘sujeitos verdes’ (Guimarães, 2012), conscientes e preocupados com o seu papel na preservação do nosso planeta.
A resistência aos ensinamentos modernos também cabe a nós. Penso que devemos sim tensionar a organização classificatória dos saberes e o lugar disso nos espaços educativos. É desse desconforto [...] que talvez emerjam as possibilidades de criação de outras educações ambientais que nos levem a tensionar os modos hegemônicos que olhamos para a ‘grande’ educação ambiental e assim a constituímos (Henning, 2019, p. 681- 682, grifo do autor).
Vale ressaltar que não buscamos determinar qual concepção acerca do campo da Educação Ambiental é adequado ou não. Talvez a questão aqui seja a de questionar: ‘Quais concepções de Educação Ambiental se travam e em que contexto social, político, econômico e cultural elas se produzem?’.
As autoras Henning e Silva (2018), em seu texto presente no livro Educações ambientais possíveis: ecos de Michel Foucault para pensar o presente, nos convidam a tensionar algumas verdades que permeiam a Educação Ambiental, uma delas a ideia de que a Educação Ambiental é a solução para os problemas ambientais. As autoras nos convidam a olhar para a Educação Ambiental pela via do dissenso, possibilitando a criação de brechas no pensamento que universaliza este campo. “O dissenso se faz em nós. E é daí, justo desse desencontro, dessa discordância teórica e política que podem surgir outros modos possíveis de Educação Ambiental” (Henning e Silva, 2018, p. 158).
Henning e Silva (2021) propõem a resistência à homogeneização da Educação Ambiental, nos ajudando a pensar na possibilidade de novas conexões e outros modos que não passem exclusivamente pela normalização, que fujam da previsibilidade presente neste campo. Tensionar a Educação Ambiental que há anos nos é apresentada envolve provocar seus ditos legítimos, inventar percursos singulares, experimentar outras possibilidades que sejam incertas, duvidosas. Carecemos da invenção de outros modos de nos relacionar com o planeta, com a vida. Modos inusitados que nos instiguem a pensar em outras educações ambientais possíveis.
Dessa forma, ao longo das experiências filosóficas, as perguntas direcionadas pela professora pesquisadora surgiram para provocar o pensamento e a curiosidade das crianças, instigando-as a pensar sobre o que estava sendo conversado e as relações que elas estabeleciam com o espaço no qual faziam parte. Logo, não se trataram de narrativas, mas de possibilidades de experiência que resultaram do encontro. A intenção foi a de partir de situações que aconteceram no momento, no encontro. “O ponto da vez é falar juntos de coisas verdadeiras. Não das que se tocam com a mão, mas das que nos tocam dentro” (Kohan et al., 2012, p. 199). Sendo assim, poderíamos falar, por exemplo, de amizade e saudade se uma criança expressasse esses sentimentos em nossos encontros. Em filosofia, as perguntas surgem a partir dos encontros, das conversas, reflexões e das ‘coceirinhas’ que dão nas ideias da gente!
Em uma das últimas atividades da semana, as crianças foram surpreendidas com um presente enviado pelo Amigo. A turma recebeu uma caixa onde havia dentro um boné azul com detalhes vermelhos. Mas, o que será que o menino queria que as crianças fizessem com aquele boné? De onde surgiu o boné? O que poderia acontecer? O que poderia ser feito com aquele boné?
O menino que colecionava lugares usava um boné e não o tirava da cabeça em nenhum momento da história. Por que será? O que havia de tão especial naquele boné? Seria um boné mágico? Será que ele dava “coceira nas ideias” do menino? Será que, além da lata, ele também guardava lugares dentro do boné? Quantas questões para pensar! “Parece que o Amigo tem um boné mágico”, disse a criança 1. “É um boné mágico, sim!”, afirmou a criança 3. “Eu sei que é mágico”, falou a criança 4 com muita convicção.
E, a partir disso, um desafio surgiu: criar brincadeiras utilizando o boné do Amigo. Será que ele sabia criar brincadeiras com um boné? Como poderíamos ensiná-lo? Um alvoroço de conversas surgiu ao mesmo tempo; muitas ideias foram expostas e novamente a professora pesquisadora precisou ajudar para que todos tivessem suas falas ouvidas e respeitadas. E assim, algumas brincadeiras surgiram e a que a turma brincou por mais tempo foi a de esconder o boné do Amigo, sem sair da frente da tela do computador. Quem sugeriu essa brincadeira foi a criança 1 e ela ensinou a brincar assim: “É tipo uma brincadeira que todo mundo vai gostar. Você vai ter que esconder o seu boné e os outros não podem ver o boné. Eles vão ter que saber onde vai estar o boné”. “E a gente consegue brincar assim, pelo computador?”, perguntou a professora pesquisadora. “Sim, só que tem que usar o boné”, reforçou a criança 1. “Só que não pode brincar lento. Se não demora e ninguém ganha”, disse a criança 5. Enquanto os amigos fechavam os olhos, o boné poderia ser escondido em cima, embaixo, ou dos lados. Depois, cada criança dava seu palpite para descobrir onde ele estava.
A criança 3 também sugeriu uma brincadeira usando os bonés: “Quem consegue pular o mais alto possível, vence”. Quando todos toparam brincar, a criança 3 disse: “Mas eu vou ser o juiz, está bem?”. As crianças concordaram e a brincadeira começou. Todos levantaram, a criança 3 contou: “Três, dois, um e já!” Os amigos pularam o mais alto que conseguiram.
A professora pesquisadora aproveitou o interesse e empolgação das crianças e sugeriu outra brincadeira. Agora, uma criança por vez, colocaria seu boné e expressaria um sentimento sobre o ambiente em que transitavam diariamente: O que cada um achava do caminho até a escola? Ele era longo ou curto? Como se sentiam indo até a escola? Havia espaços com natureza nesse percurso? Como as crianças gostariam que fosse o trajeto percorrido da escola até sua casa?
“Eu queria que tivesse uma pracinha para atravessar e chegar na escola”, disse a criança 5. “Eu vejo a escolinha de longe, vejo árvores cheias de folhas e frutas. Tem areia, tem grama, tem muita coisa” (criança 3). “Eu vejo um monte de coisas, um monte de amigos” (criança 1).
Quando a professora pesquisadora perguntou qual o sentimento cada criança tinha ao pensar na escola, eles falaram: “O meu sentimento é feliz para ir na escola” (criança 1); “Eu fico feliz, profe” (criança 2); “Eu fico empolgado” (criança 5).
Para finalizar essa semana, as crianças buscaram suas latas e a professora pesquisadora explicou que naquele momento só entrariam perguntas ali dentro. Que perguntas poderiam ser feitas? Sobre o que elas seriam? Conforme as crianças conduziam as perguntas, a professora ia anotando-as para que fossem colocadas dentro das latas. Dentre as perguntas criadas pelas crianças, a criança 3 questionou: “Quando eu crescer e virar adulto, eu vou ter mais coceirinhas nas ideias?”. Logo a criança 5 disse: “Mas se as minhas ideias coçam muito, eu vou ficar piradinho?” Então, a professora pesquisadora perguntou: “O que pode acontecer quando a gente sente coceirinha nas ideias?”. “Uma ideia boa!”, disse a criança 4. “As minhas ideias sempre coçam”, afirmou a criança 3. E a criança 1 encerrou a conversa dizendo: “Coceirinha nas ideias quer dizer que está coçando a ideia”.
Enquanto nos encaminhamos para a finalização desta escrita, convidamos as leitoras e os leitores para conosco, acreditar na potência das infâncias que pensam com a curiosidade do ‘não saber’. Elas invertem a lógica e criam novas possibilidades; agem diferente das posturas adultas.
Gosto de insistir nessas linhas de que as crianças nos oferecem a possibilidade de um declínio necessário para habitarmos o mundo da linguagem não se adaptando tão cegamente, tão civilizadamente a esse mundo. Oferecem-nos imagens para que possamos ainda existir ou ainda (re)sistir através das paixões (Lima, 2021, p. 308).
Assim, entendemos que educar envolve produzir sentidos e nos provocamos a pensar sobre a relação entre infância e experiência: Quem educa quem? Como podemos inverter o olhar para habitar o mundo de outras formas? As hipóteses e possibilidades das crianças não precisam estar munidas de verdades consolidadas. Elas imaginam e relatam as experiências a partir do que sentem vivendo-as. E assim, entendendo que educar envolve produzir sentidos, buscamos pensar a escola como um espaço de encontros, de sensações, de experiências de pensamento.
Considerações finais
Ao conceber a filosofia como possibilidade de experiência do pensar não tínhamos a pretensão de chegar a determinados resultados. Nossa intenção foi a de romper as fronteiras do pensamento, distorcer e retorcer as ideias, inventar, deslocar, almejar novos horizontes, considerando que eles se movem constantemente. Nós partimos da incerteza, da imprevisibilidade, de experiências irrepetíveis e singulares.
É nessa estrada ‘turbulenta’ que caminhamos, sabendo que estranhar a verdade dói no nosso pensamento, mas é algo necessário. Partimos do desejo de realizar experiências filosóficas que provocassem o pensamento e nos instigassem a mergulhar nessa aventura em busca do desconhecido, partindo da potência da escuta às infâncias e criando inusitados e comprometidos olhares para a Educação Ambiental.
Em nossas experiências filosóficas, distanciamo-nos da ordem explicadora que o caráter disciplinar da escola nos condiciona a seguir. Ao preocuparmo-nos na organização de uma prática com as crianças em que somos levadas pelas experiências filosóficas, entendemos a escola mais como lugar da pergunta e menos como lugar de respostas.
A escola não precisava ser lugar de cópia, de reprodução. Em vez disso, ela pode ser lugar de invenções potentes e criações inusitadas. Ao longo das experiências filosóficas, aprendemos a reinventar e criar outros sentidos para o que significa ensinar e aprender e para as vivências escolares com as crianças, aventurando-nos a ser de outra maneira em relação ao que vínhamos sendo até então. Podemos dizer que percebemos possibilidades diferentes daquelas que estávamos acostumadas, possibilitando conversas que instigavam outros pensamentos, diferentes daqueles que vinham sendo pensados, fazendo pedagogias diferentes daquelas que costumávamos fazer, inquietando o ensinar e o aprender.
Possibilitamos encontros de filosofia com tempos e espaços distintos dos comumente vivenciados na escola. Isso porque na escola o tempo é linear e mensurável, esse tempo é de apropriação de conteúdos e habilidades que possibilitam o tão conhecido ‘desenvolvimento infantil’. Na escola, o tempo e o espaço são previamente organizados e tanto as crianças quanto os professores precisam se adaptar a eles.
Já o tempo da filosofia é um tempo que não se mede. A filosofia se faz com perguntas, se faz conversando. Conversa coletiva em um tempo fora do ordinário, fora do habitual. Tempo de uma calma conversa sobre o que nos inquieta, nos afeta. Espaço em que a criança é provocada a formular em voz alta aquelas perguntas que faz a si mesma; não qualquer pergunta, mas aquelas que nos fazem pensar, aprender a discutir e argumentar. Perguntas que surgem sem a intenção de procurar por respostas, mas para provocar dúvidas mais complexas.
A partir de uma escuta sensível, tornou-se possível ampliar as possibilidades de pensamento e as experiências vivenciadas pelas crianças. Através da filosofia, acabamos adquirindo uma postura distinta do que se espera em uma escola; aqui em específico em uma escola de Educação Infantil. Aprendemos que não precisamos seguir um ‘planejamento’ de atividades à risca; a potência de pensamento estava em partir dos desejos das crianças acerca do tema em questão. Ao longo da pesquisa, as crianças trouxeram com muita simplicidade, falas potentes de sentidos e significados inusitados.
Tensionar os valores de verdade dos discursos em Educação Ambiental e olhá-los com estranheza nos possibilitou promover rotas de fuga e possibilidades de resistência e criação de outros modos de ver e pensar os problemas ambientais que nos permeiam.
Entendemos que é um grande privilégio ser tocada e transformada pela filosofia e pela infância. Trata-se de uma viagem que não vislumbra portos seguros nem linhas de chegada. É uma viagem em constante movimento, que se desloca entre pensamentos e experiências. Mas, como toda viagem marcante, depara-se com imprevistos e desafios.
Por mais desafiador que tenha sido pensar filosoficamente a escola e os ensinamentos ambientais, pensamos na potência de criação possível, partindo de uma educação menor que acontecia nos interstícios da sala de aula. E assim, apostamos na filosofia como potência de pensamento para fissurar as verdades que permeiam o campo da Educação Ambiental no cotidiano escolar e convidamos as leitoras e os leitores a pensar conosco na potência de criação para outras educações ambientais possíveis junto às crianças da Educação Infantil.











 texto em
texto em