1 AS POSSIBILIDADES DE EXISTÊNCIA: HORIZONTES DE UMA QUASE-EDUCAÇÃO--AMBIENTAL
Neste artigo, relatamos e pensamos com uma pesquisa-travessia3 que se deu nos deslocamentos entre Niterói, Paraty e a Praia de Martim de Sá, RJ. Travessias de ônibus, trilhas, lancha, barca... Pensamentos, intervenções, conversas, banhos de mar, imprevistos, (des)encontros, anotações no diário de campo, fotografias... Atividades investigativas propostas que buscaram catalisar outras formas de olhar e narrar os caiçaras4, colocando em suspeita modos recorrentes e naturalizados de vê-los, promovendo fugas aos lugares-comuns. Assim, procuramos dialogar com o processo que nomeamos de ‘devir-caiçara’5 que, vale frisar, já estava em curso independentemente dessa pesquisa acontecer ou não.
Uma das autoras do artigo já havia desenvolvido projetos, trabalhos, amizades com os moradores da porção sul da Península da Juatinga (Paraty, RJ), estabelecendo uma longa relação (ainda que entrecortada por períodos de distanciamento) com o lugar, as pessoas e as narrativas que circulam por lá. Isso permitiu que arriscássemos uma hipótese de pesquisa: de que os caiçaras navegam por ‘entre’ arquipélagos e continentes como se precisassem se afastar do “seu lugar” e do que lhes foi dado de antemão para que os (des)encontros - com o espaço, consigo e com o outro - aconteçam. Nessa movimentação de ir e vir, nas travessias entre a praia de Martim de Sá e a cidade de Paraty, dá-se uma experimentação em torno de um ‘devir-caiçara’ que levanta questões sobre o feitio da multiplicidade e da diferença nos processos de produção de suas realidades. Dessa maneira, as linhas de fuga se potencializam e fazem resistência aos discursos que pretendem determinar, definir, circunscrever o que deve ser um caiçara.
Tomando como ponto de partida esses (des)encontros, que criam rachaduras nos modos como os caiçaras se veem, se narram e como os vemos, narramos e percebemos, essa pesquisa quis provocar, mobilizar e nutrir as suas potencialidades de vida. Visto a necessidade de criarmos narrativas e contarmos histórias outras, subvertermos padrões e modelos postos, paramos para olhar, escutar e sentir, junto, o fluxo que corre enquanto muitas forças tentam silenciar o que se fala e invisibilizar o que se mostra, de modo a ignorar o inacabamento do ‘ser caiçara’. Portanto, dialogamos com os habitantes de Martim de Sá e a sua cultura a partir de diferentes possibilidades de existência, dentre as quais gostaríamos de destacar: Exigências: a vida tem nos dado condições de sobrevivência, apontando os itinerários que devemos seguir para torná-la possível. Contudo, nos seus ruídos e silêncios, a vida pede mais do que simplesmente sobreviver, pois “sobreviver é muito pouco, e muito pouco pode ser um nada de vida” (GODOY, 2008, p. 77); Existências: inventamos desvios que propiciam a expansão da vida para além das exigências. E, assim, nas suas potências, a própria vida transforma seus itinerários em percursos e a existência única em múltiplas existências; Resistências: entre exigências e existências, sempre sobrevêm as potências. Seguimos, então, resistindo nos ruídos e silêncios que fazem pulsar. Vibram e incomodam. Transformam o que não se pode tocar, uma “natureza intocada” e um “bom selvagem”, em movimento, processo de produção de realidades outras.
Em meio as tantas possibilidades de vida, vamos sendo ‘isso e aquilo’. Vidas que se fazem no embate entre as forças postas em jogo: redução da vida às condições de existência - conservação e utilidade - versus expansão da potência vital - experimentação de devires (GODOY, 2008). Dessa forma, tanto nos remetemos a imagens e modelos quanto não seguimos estereótipos e tradições, sendo através e com as experimentações que inventamos novos modos de existência, experimentamos devires e exploramos desvios.
Nesse percurso, apostamos no que chamamos de “quase-educação-ambiental” como horizonte de onde miramos (e criamos, inventamos, movimentamos, fabulamos, experimentamos) tais possibilidades de existências. Um desvio - no olhar, no caminhar, no sentir - que não se faz só na linearidade pretendida pelas exigências, mas que atravessa e provoca deslocamentos, que camufla e faz emergir linhas de fuga, que inventa novos caminhos e faz surgir conexões onde estas não existiam.
A partir deste horizonte, no qual inventamos, processualmente, os (quase) métodos de pesquisas encorpados em práticas que estamos nomeando como quase-educação-ambiental, propusemos experimentações com fotografias e narrativas junto às comunidades da porção sul da Península da Juatinga na praia de Martim de Sá. Estas experimentações tinham a proposta de criar meios de se imaginar ‘possibilidades’ de realidades outras, diferentes, estranhas e desconhecidas. Fotografias que não representassem histórias ou realidades. O ato de fotografar atuaria, nessa perspectiva, como uma ativação do real e os registros fotográficos como expressão da subjetividade, podendo, ambos, propiciar uma pluralidade de narrativas que, uma vez compartilhadas, criam outras realidades que não precisam ser consensuais, já que o que é visto e narrado diz respeito à experiência de determinada pessoa que é tocada de forma única. Fotografias e narrativas implicadas na produção de sensações, sentimentos, histórias, desejos, conhecimentos, fazeres, sentidos, percepções, sonhos. Fotografias como uma forma de movimentar o contorno das palavras em processo para, então, a partir das narrativas caiçaras, abrir nossa escuta para os seus (des)afinos, possibilitando novos espaços de resistências e criações.
Não nos interessa definir nem explicar o que estamos chamando de quase-educação- -ambiental. Mas consideramos interessante apresentar algumas inspirações acerca do que nos impulsiona em direção a escolas, comunidades, pessoas com a vontade de propor a criação de outras narrativas que atravessem questões socioambientais. Enquanto notamos um esforço nas práticas de educação ambiental em prol da correção do mundo, estamos mais interessadas em contar outras histórias, mais modestas, sobre o mundo, “repletas de afetos, encontros, delicadezas, vidas e sonhos”, como sugerem Guimarães e Sampaio (2014, p. 132). Os autores defendem uma educação ambiental aberta à multiplicidade e à invenção, que esteja atenta ao que irrompe como modos singulares de viver, sentir, relacionar-se e teorizar o cotidiano. Essas pequenas sutilezas estiveram sempre reverberando nas formas como pensamos nossos encontros com os caiçaras nesta pesquisa. Também nos mobilizou intensamente a proposição feita por Guimarães (2012) sobre a “necessidade ética de se enredar aos acontecimentos que atualizam e deixam vibrar as potencialidades de relações ambientais construídas, reconstruídas, desconstruídas em encontros com o outro” (p. 364).
Talvez esse “quase” que antepomos à educação ambiental se refira ainda ao afastamento de determinadas maneiras, mais comuns, de tematizarmos o que se entende como questões ambientais. Por mais que caiçaras, populações tradicionais, áreas preservadas6 possam, por variadas razões que não vêm ao caso esmiuçar aqui, ser encaixados no campo das “questões ambientais”, os modos de aproximação que exercitamos subvertem as formas como esses elementos costumam ser agrupados e narrados nos discursos ambientais.
Embaladas por estas inspirações, dentre outras, elaboramos as seguintes indagações para nos guiarem ao longo dessa pesquisa-travessia: Seria possível ampliar a imaginação da história única e produzir fissuras que façam sobrevir uma multiplicidade de narrativas caiçaras? Quais são os sonhos, os sentimentos, os afetos, as histórias, as invenções, as viagens, as imagens, as percepções, os sentidos, as realidades, os acontecimentos etc., que os caiçaras querem transbordar? Sob o olhar dos caiçaras, o que se quer que (sobre)viva a partir das fotografias? Na relação com as fotografias, como afinam e desafinam sentidos sobre ser caiçaras e o lugar em que vivem? O ato de fotografar e narrar seria o mesmo que potencializar a criação de afetos, movimentos, intensidades e realidades outras?
2 DEVIR-CAIÇARA: A VIDA É ISSO E AQUILO
Comumente, as histórias narradas sobre os caiçaras os atrelam à tradição e a um lugar7 margeado por fronteiras que delimitam o que ‘deve’ estar ‘dentro’ e o que ‘deve’ estar ‘fora’ da sua cultura, bem como o que eles ‘devem fazer’ e o que ‘não devem fazer’. São muitas as relações de poder em curso nessas comunidades e o estímulo ao discurso sobre o que é ser caiçara tem diversas intenções que evidenciam o simultâneo reforço de interesses, controles e resistências. Isto é, há narrativas que os narram e narrativas que são narradas por eles e ambas estão carregadas de diferentes sentidos e constroem distintas realidades. Muitos enunciados propõem que a tradição caiçara deva ser resgatada, preservada e valorizada, e insistem em narrar a imagem desta cultura a partir de um ideal de cultura harmônica e homogênea que deve ser conservada sem a interferência da “civilização”.
Sampaio (2012) desenvolveu uma pesquisa que colocou em evidência discursos que visam regular as condutas das ditas populações tradicionais, atrelando-as a determinadas características e modos de vida considerados mais “sustentáveis”, “ambientalmente adequados”, menos danosos à preservação dos ecossistemas. Segundo a autora, há um caráter fortemente normativo associado à identidade “população tradicional” (SAMPAIO, 2012). Assim, não basta ser caiçara, é preciso manter-se caiçara. Consideramos importante dizer que o investimento em ser reconhecido como caiçara possibilita a conquista de diversos direitos assegurados judicialmente, o que, no entanto, tem como moeda de troca o respeito às regras de uso e de acesso aos recursos, visando a conservação do ambiente em que vivem e a submissão a um estereótipo que pode restringir suas possibilidades de existência.
O grupo contemplado nesta pesquisa, a família dos Remédios, está no “seu lugar” há pelo menos seis gerações, havendo três delas vivas que se autoidentificam como caiçaras. O “ser caiçara” para eles tem a ver com o fato de ser “nascido e criado” no “lugar”, com as atividades que realizam, o modo de falar, a alimentação e ainda com a descendência indígena e a conservação da natureza (MONGE, 2012). “Seu lugar” são as comunidades de Martim de Sá, Rombuda, Saco das Enchovas e Cairuçu das Pedras e se localizam na porção sul da Península da Juatinga, sendo estas comunidades caiçaras as mais distantes do centro urbano mais próximo, a cidade de Paraty, RJ, e o acesso só se faz por mar e/ou trilhas.

Fonte: Fotografia produzida pelos caiçaras, 26/02/2018 a 03/03/2018, pesquisa de campo
Figura 1 Placa localizada no caminho da comunidade para a praia de Martim de Sá, RJ
Nesta pesquisa, nos interessa ressaltar que a vida caiçara está em constante processo de criação e que a sua existência não se dá de forma fixa, estável, acabada. São muitos os recortes temporais feitos dos processos sempre em andamento, o que acaba nos levando ao universal, ao senso-comum, a uma determinada forma de narrar a caiçara e a sua vida, de modo a reproduzirmos uma história como se fosse a única possível. Adams (2000) se debruça sobre uma importante discussão no tocante às descrições diacrônicas que vêm sendo feitas dessas comunidades e que tendem a vinculá-las ao mito do “bom selvagem” - como pescadoras, tradicionais, isoladas, autossuficientes, primitivas. Nesse sentido, as produções científicas não têm permitido alguns movimentos na história narrada. É importante reconhecermos que os caiçaras também exercem atividades tradicionais “no seu lugar”, mas não apenas. Ser caiçara, como reivindicação usada pelo próprio habitante do litoral (VIANNA, 2008), diz tanto de uma atitude de reconstrução e de fortalecimento de sua identidade cultural quanto de uma adequação aos discursos que os caracterizam como tal a fim de obterem os direitos e benefícios de ‘ser caiçara’.
Além disso, delimita-se uma relação de oposição entre povos tradicionais versus povos não-tradicionais: enquanto os primeiros ‘devem’ conservar a pureza da cultura e ‘devem’ saber como conservar a natureza, ‘os outros’, detentores de uma modernidade ameaçadora, ‘devem’ se manter distantes, separados da natureza. Ou fazemos valer o mito da “natureza selvagem” - em defesa da conservação de uma natureza intocada pressupondo que as áreas não sejam habitadas por seres humanos, uma ameaça à diversidade biológica - ou o mito do “bom selvagem” - em defesa do direito dos povos tradicionais às terras que ocupam como um programa de conservação da biodiversidade. ‘Ou isso ou aquilo’. Não existe lugar para o diferente, o diferido. Tudo deve estar no seu devido lugar, e toda diferença, que por alguma razão encontre uma brecha, está condenada ao não-lugar. Dentro dessa lógica, a normalização da diferença implica uma construção binária: a de distinguir e separar. Dessa forma, “a singularidade é progressivamente obliterada à medida que simplesmente se faz o que ‘deve’ ser feito, e o que deve ser feito já está posto de antemão pelo modelo” (GODOY, 2008, p. 123). Contudo, argumenta a autora, carregamos conosco possibilidades de mudança e potência avaliadora do devir que, em permanente processo de variação, encontra e ultrapassa limites; somos a expressão do movimento da vida que confunde as classificações, que inventa a vida e abre-se à inquietação.
‘Devir-caiçara’ é, portanto, estar à deriva como multiplicidade prestes a tornar-se Outro, “um território de passagem ou a passagem de um estado a outro” (LEITE, 2016, p. 25), um vir a ser que se opõe a um estado estático do ser. É ser ‘isso e aquilo’. ‘Ser’ enquanto afirmação do ‘devir’, contrário à limitação do homem e das coisas em si mesmas. É ser nômade, ‘aqui e acolá’. A perspectiva que nos orienta visa a reimaginação das coisas em processo, para que se possa desafiar localismos exclusivistas e reconceituar os lugares; para que se crie possibilidades para invenção de outras narrativas, histórias silenciadas por discursos que ditam o ‘dever-ser’ caiçara em detrimento de um ‘devir-caiçara’. É no movimento feito em direção ao reconhecimento do devir e do espaço como multiplicidade de coexistência, que buscamos vê-los como potência de vida, um espaço reconhecido como uma simultaneidade de histórias, onde o aqui e agora dizem de um espaço-tempo que está em constante movimento, à deriva.
E mais: se, em vez de vermos a cultura caiçara apenas dentro dos limites dados por fronteiras dos seus terrenos particulares, a considerássemos em seus transbordamentos? Acreditamos que se enxergarmos os lugares para além de pontos sobre uma superfície, encarando-os como um local de encontro de multiplicidades de trajetórias distintas e para onde convergem inúmeras práticas sociais e narrativas, o “seu lugar” e os caiçaras não seriam encaixáveis num mapa. Eles poderiam ser, também, outros. São esses os movimentos que nos interessam nesta pesquisa: os que ocorrem para além das bordas, metamorfoseando as tentativas de segurança e fixidez em processos inventivos, permitindo que os caiçaras sejam nômades, inclusive, no “seu lugar”.
Sendo assim, a atividade investigativa que realizamos buscou favorecer o surgimento de outras formas de olhar e narrar os caiçaras, em especial os que vivem e circulam pela porção sul da Península da Juatinga. Ao invés de buscarmos uma história coerente, que falasse de uma realidade dada, nos propusemos a acompanhar processos de produção de realidade caiçara, os quais, acreditamos, se expressam de múltiplas maneiras. Para tanto, numa tentativa de olhar para a vida em seus não-métodos, nos inspiramos na Cartografia como uma aposta na experimentação do pensamento, ou seja, um método não para ser aplicado, mas para ser experimentado como atitude. Assim, a metodologia dessa pesquisa se constituiu a partir de pistas que orientaram o percurso do nosso fazer investigativo, sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar tanto sobre o objeto da pesquisa quanto sobre as pesquisadoras e seus resultados (BARROS, L.; KASTRUP, 2015).
Nesse sentido, imergimos no plano de experiência e procuramos tecer relações entre a produção de narrativas que os caiçaras fazem de si próprios a partir das suas experiências de vida e das fotografias feitas em campo. Para investigar esses processos, compusemos um diário de bordo no campo-tema8 e registramos os acontecimentos, as experiências e, inclusive, as narrativas produzidas e inventadas nas práticas propostas. Considerando que o saber-fazer caiçara se faz, principalmente, com e através da tradição oral, optamos por utilizar as fotografias como dispositivo metodológico que catalisa experiências e opera no processo de produção de narrativas. Pensamos a fotografia, inspiradas pelo trabalho de Wunder (2006), como um discurso visual mediado pelas subjetividades de quem produz e/ou de quem as observa e, também, como catalisadoras de narrativas, conhecimentos (quiçá experiências) e realidades outras. Assim, nos debruçamos sobre fotografias já existentes no local9 e outras tiradas pelos caiçaras durante a nossa atividade investigativa buscando incentivar que eles se vissem, se mostrassem, e falassem sobre o que gostariam de tornar visível e dizível sobre eles próprios e o lugar em que vivem.
Vale frisar que esta metodologia só se fez possível porque se propôs a produzir ‘afetos’. Na nossa compreensão, são os seus fluxos diários que nos permitem as conversas, as experimentações, os (des)encontros, a amplitude de relações e a produção de sentidos diversos, o que convoca outras escutas e histórias. Em suma, buscamos o entrecruzamento das fotografias, dos afetos e das narrativas que deles advêm, de modo a se transformarem mutuamente através de linhas de atualização, transbordando os contornos dos padrões e propiciando a produção de existências múltiplas.
3 PISTA I - A EXPERIÊNCIA POÉTICA [E CAÓTICA] DO REAL
Nesta seção destacamos os (des)encontros, os imprevistos, o inesperado, o caos, os riscos, as “notas erradas”, os ruídos, os desafi(n)os. Ora através de palavras ora de imagens, divagamos sobre os deslocamentos que se deram nos dois campo-temas feitos em Martim de Sá de modo a não limitarmos esta investigação às representações e aos produtos dos seus processos. Para tanto, fizemos releituras de fragmentos das fotografias e das histórias produzidas com os caiçaras, a fim de não fixarmos tempo e espaço, tampouco sentidos e percepções. Nessa seção os leitores podem tomar para si os fragmentos conforme lhes for oportuno e desencaixá-los e compô-los com outros, atribuindo-lhes novos sentidos. Contaremos, assim, histórias emaranhadas decorrentes dos dois campos, um realizado em outubro de 2017 e outro em fevereiro de 2018, ambos com uma semana de duração, tendo um total de quinze10 caiçaras - mulheres, homens e crianças - participando das conversas e das experimentações de imagens e narrativas dessa investigação.

Fonte: Fotografias produzidas pelos caiçaras, 12 a 17/10/2017, pesquisa de campo
Figura 2 As paisagens e os passageiros. Martim de Sá, RJ
Era a onça, com certeza. Toma aqui, é araçá. Cuidado, ontem encontramos 3 cobras ali, ó. Tô ouvindo música. Já viu esse filme? Fazer rede não é difícil, senta aqui. Sim, tive 13 filhos. Escrevia na parede de casa mesmo, e assim eles foram aprendendo a ler e escrever. Só durmo de ventilador. Gosto de ter o meu próprio dinheiro, sabe? Deus que me livre! Quais os seus sonhos? Nunca fui no Pico do Miranda, vamos? Olha meu tênis novo! Era parteira. Ele foi campeão na competição de surf. Não gosto do mar. Gosto do mar. Tenho tanta preguiça. Vamos tirar umas fotos? Me machuquei andando de bicicleta. Meu cachorro. É muita briga. Ganhei um violão. Olha, vou escrever os bichos que tem aqui, tá? É caiçara sim. Não vendo não. Pescamos uns 200, ali da areia mesmo! Tem quem goste e tem quem não goste. Olha que eu vou jogar... 1,2,3 e já! Viveu mais de cem anos. Comprei essa canoa. Queria mesmo é que virasse tudo mata de novo. Encontrei uma pegada no chão desse tamanho, ó. Daqui eu não saio. Nada como fazer minha própria farinha! Parece que não, mas a gente cansa, viu? E o esgoto vai todo pra lá. Aqui a gente fala “brusa”. Adoro as minhas flores. Tem que seguir o ritmo. Se quiser, eu posso desenhar. Lá é diferente. Quase vendeu! Muito teimosa. Vou me mudar. Temos que resistir. Já eu, acho que não! Aprendi vendo o meu pai mesmo. Não canso não! Apanhei muito daquele homem. Queria ser lutadora. Meu celular novo. Ela pescava com a própria saia. Aí pega as modas da cidade. Não entro na cachoeira tem anos. Essa canoa meu tio que fez. Assim acho que não é caiçara não. Perdeu os filhos de tanto apanhar. Posso tirar uma foto? Planto de tudo lá! Ah, não é mais como antigamente. Chega a época de caçar. Não sei limpar peixe não. Tava com saudades de ficar assim, brincando. É bom ir também, né? Não quero aparecer. Não sei fazer isso não. Vou ali beber uma Coca-Cola. Eu gosto, enquanto isso a gente conversa. A geladeira é nova. Tenho vergonha. Tem gente que diz que não é caiçara não. Me adiciona lá no facebook. Como é morar lá? Hm, miojo! É a placa solar que comprei. Aprendi sozinho, ué. Passei o dia vendo filme. Tá lá na cidade. Tenho medo. Tava comendo peixe com banana. Caiçara mesmo é ele. Olha o que eu sei fazer:

Fonte: Fotografia produzida pelos caiçaras, 12 a 17/10/2017, pesquisa de campo
Figura 3 Jovem caiçara tirando uma selfie. Martim de Sá, RJ
“O que gostariam de registrar?” Essa foi uma pergunta que surgiu enquanto muitas fotografias eram tiradas e observávamos, juntos, tantas outras já existentes no local. Sim, foi uma pergunta vaga e, por isso mesmo, gerou movimentos inesperados. “O meu coelho, eu mesma, o sossego, as plantas, a praia, as amendoeiras (...).” As respostas chegaram por fios soltos que, aos poucos, foram costurados em palavras, histórias e fotografias em devir. “Quem fez esse mural? E esse? Vocês que tiraram essas fotos?” Alguns arriscavam uns nomes, outros diziam não ter ideia de quem havia dado os murais repletos de fotografias a eles, tampouco quem eram os fotógrafos que tinham seus registros nas varandas de suas casas.

Fonte: Fotografia produzida pelos caiçaras, 12 a 17/10/2017, pesquisa de campo
Figura 4 Foto-poesia de uma varanda. Martim de Sá, RJ
Nas redes, entre cafés e bolos, histórias surgiram, fotografias penduradas nas paredes foram “historiadas” e novas imagens criadas. Uma mesma fotografia continha, em si, múltiplas histórias a serem criadas, assim como, de uma mesma história, diferentes fotografias eram tiradas. Compreendemos, com isso, que as fotografias não tinham a obrigação de contar uma história, assim como as histórias não tinham a obrigação de ter uma fotografia como produto. Desta maneira, as lacunas entre histórias e fotografias, supostamente espaços vazios de informações, foram como pistas que nos levaram a transbordar os limites das perguntas que vinham sendo traçadas no trajeto da pesquisa. Ao invés de procurarmos respostas, nos atentamos a acompanhar os movimentos que as perguntas estavam gerando: in-ventos.
Inventar não é partir do zero, de algo totalmente novo e estranho. Inventar é recombinar, tramar novas possibilidades a partir do mesmo. Quando algo excede podemos descartar, considerar que seu uso atingiu o limite, ou podemos gerar novos mundos com os mesmos elementos, olhar por outros ângulos, duvidar do óbvio, descascar sua superfície para gerar novas camadas de saber. (VAZ, 2018)
Isso quer dizer que as histórias narradas eram inventadas? Se tomarmos como referência esse jeito de entender o ‘inventar’, podemos dizer que sim. Por vezes, nós, pesquisadoras, duvidávamos da veracidade das histórias e inventar, nessa circunstância, acabava ganhando outra conotação, como se fosse algo ruim, uma mentira. Um incômodo também nos acometia quando a fotografia a ser tirada/observada possuía algum elemento que, se distraídos, poderíamos dizer que não fazia parte do mundo caiçara - como, por exemplo, o celular. Tivemos que lidar com esse estranhamento que era nosso, e não deles. Fomos deslocadas, saímos do “nosso lugar” e, então, paramos de esperar, ansiosas, por sentidos. Abrimos nossa escuta para os ruídos e os desafinos. Respiramos. Desanuviamos.
Sublinhar esses aspectos é preciso, pois evidencia a importância de enganarmos os nossos próprios sentidos e, com isso, ressaltarmos as possibilidades de invenções de sentidos outros que as imagens, assim como as narrativas, disparam, atuando na composição de realidades e vidas em devir. O que há, portanto, são movimentos, afetos e intensidades que a vida cria, uma vida que é sempre e sobretudo possibilidades e potências. E assim eclodiu o seguinte pensamento-poesia:
Devir-caiçara:
se inventa como processo vivo.
Faz frutificar o corpo de ditos,
que codificam a tradição e a memória de um povo.
Contra os ditados e a ditadura do dado e dos modelos,
faz ressurgir um povo,
inesperado e desconhecido,
sempre inacabado e em curso
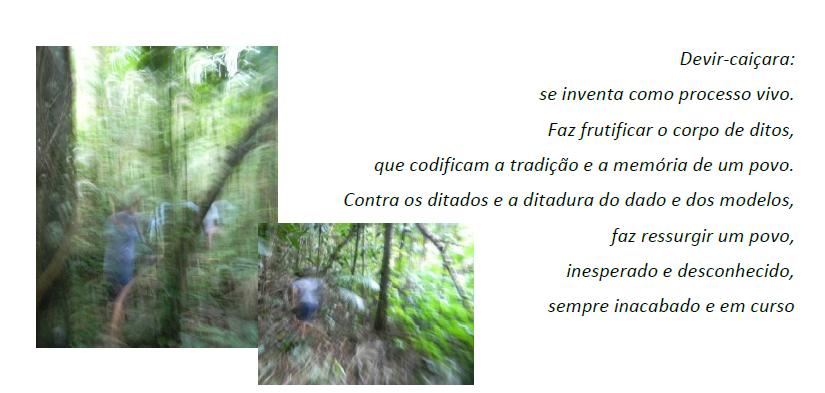
Fonte: Fotografias produzidas pelos caiçaras, 12 a 17/10/20117, pesquisa de campo
Figura 5 Fotografias nômades. Martim de Sá, RJ
“Posso escrever o que tem aqui? Vou dividir a folha e escrever de um lado o que gosto e do outro o que não gosto. Posso desenhar a praia?” Enquanto escreviam e desenhavam, iam nos contando o que tem em Martim de Sá, os seus sonhos e desejos e muitas histórias de uma vida que não cessa de in-ventar possibilidades que emergem de experimentações singulares. “O que é ser caiçara?” Pudemos perceber que essa é uma pergunta que os interessa muito responder, ainda que não a tenhamos feito diretamente, como se pode ver nos fragmentos de narrativas que compomos a seguir.
[conversas em re-talhos]
- Pescando Tainha de picaré, em plena madrugada, pegamos uns 200. Parece história de pescador... e é! Mas não é mentira não! Ser caiçara é pescar, caçar, roçar, plantar, colher, comer peixe com banana, pirão... Azul marinho, conhece? É peixe, pirão e banana verde.
- Pesco há 14 anos, desde que tive minha filha e me casei. Gosto de pescar para ter meu próprio dinheiro. Vai de outubro a dezembro a pesca de cerco.
- Ser caiçara é ser do local. Mesmo que tenha saído para casar, continua caiçara.
- Ah, mas quando sai e volta e não quer fazer as coisas “caiçara”, perde o ritmo. Continua caiçara, mas vira outro estilo.
- Mas tem quem sai e volta querendo fazer coisas “caiçara”: vai pescar, come peixe com banana... aí sim é caiçara.
[Enquanto tece uma rede na varanda de casa, escuta uma música no celular.]
- Ser caiçara também cansa. Parece que não, mas pescar, ir até a praia e cuidar de tudo dá uma canseira que dá vontade de dormir.
- Acho que não existe mais caiçara como antigamente. Só se tomava café que plantava, não tinha acesso à mídia, andava de canoa à remo, comia azul marinho. Hoje as meninas vão pra cidade... Meu bisavô era mesmo caiçara. Casinha de estuque, plantava e tomava o próprio café, fazia a sua farinha....
- Caiçara veio do índio, sabia? Para ser caiçara tem que estar aqui, vivendo, fazendo “coisas” caiçaras. Se não estiver, não é caiçara. Caiçara é quem pratica a cultura. Ser caiçara é praticar. Tem quem vende tudo, a casa... e diz ser caiçara.
- E tem gente que não gosta de ser caiçara. Relacionam ser caiçara com bicho do mato. Se perguntam, falam que não é caiçara não.
- Ligar o motor todo mundo sabe, quero ver saber das ondas, conhecer o mar...
- Aqui tem pé de café. Mas se torrar ninguém vai conseguir tomar. O gosto é diferente.
- Seu Maneco é caiçara. Faz “piché” e toma com café.
- Café com peixe seco, farinha, inhame, cará, aipim, banana da terra, fruta pão... tudo era plantado aqui. Se oferecer para as crianças pão com queijo ou aipim, vão escolher pão com queijo. Vão perdendo os hábitos caiçaras. Eu não sou preguiçosa, mas não forço a minha filha a fazer nada não. Gosto de plantar, de colher, fazer a minha farinha.... Vamos raspando o aipim, tomando café, conversando...
- Caiçara só existe mesmo no lugar. Seu Altamiro é caiçara.
[Olhando para o celular, expressa indignação com a história que conta.]
- Aí postaram no facebook uma foto nossa e pediram ajuda pra gente. Cruzes! Parecia que a gente era “uns morto de fome”. Não gostei não!
A falta de consenso do que os caiçaras consideram “ser caiçara” nos deu outra pista: mesmo que alguns persistam na história única, ela existe nas suas variações, seja no modo como é contada, até as diferentes medidas e misturas dos ingredientes que vão sendo acrescentados a ela. A história, aparentemente única, ganha arranjos heterogêneos e exprime a força da experimentação de cada pessoa que a conta. Logo, as histórias que surgiram em campo não contêm um encadeamento de fatos e, assim, a não linearidade dos fatos narrados constitui a própria invenção num espaço de referências móveis e porosas, afirmando a descontinuidade da experiência e a incompletude do ser, que vai se constituindo com as travessias, os encontros e as narrativas. Nessa direção, as histórias excedem os limites de si, do ser e das experiências narradas, vividas e inventadas.

Fonte: Fotografia produzida pelos caiçaras, 12 a 17/10/20117, pesquisa de campo
Figura 6 A lente que tudo-nada vê. Martim de Sá, RJ
Uma câmera. Diversas mãos e olhares que se entrecruzam [o que impossibilita saber os autores de cada foto], muito ansiosos por mostrarem e falarem o que andam vendo, cheirando, inventando, sentindo, tocando, sonhando, vivendo e tateando por aí, ali e acolá. Imagens de um cotidiano nada extraordinário. Fotografias errantes. Fotos-não-grafadas. Entre-grafias. Sem foco, sem efeitos, só com afetos e movimentos de uma vida que não parou de acontecer para que um clique acontecesse. Acontecimentos. Registros de passagens e passageiros que, muitas vezes, já não são, já não estão, não vemos ou não querem se mostrar. Fotografias e narrativas feitas em encontros e desencontros, no imprevisto e no previsto. Nos gestos, nas cores, nas luzes e nas distintas direções. A cada escolha feita, um evento, um novo invento. Não sabemos se para contar uma história, criar realidades outras, guardar de recordação, desajustar composições, brincar com o que [ou quem] está olhando etc., mas as fotos vão sendo feitas em desencaixes, desordenadas e sem explicações.
Essas experimentações com imagens e narrativas não remeteram somente à tradição, mas, sobretudo, a um devir-caiçara. É notável que variados acontecimentos, histórias e aspectos relativos à “tradição” afetam os caiçaras. Mas percebemos que a tradição se faz móvel, cheia de contradições e inconstância, o que torna os próprios caiçaras experimentadores da experiência vivida, ouvida e narrada. Assim, nas nossas experimentações investigativas, criamos, juntos, as nossas próprias histórias. Afinamos e desafinamos. Fizemos vibrar sentidos outros, reinventando o que se pretendia estático. Dançamos sem conformes. Abrimos fissuras nas nossas escutas e compomos e inventamos histórias outras.
Nos propusemos a acompanhar e executar o que muitos pesquisadores diriam ser “notas erradas”, pois compõem o “bota fora” de uma pesquisa tradicional: o que “deu errado”, os entre-laços [afetos, subjetividades, linhas de fuga], os desencontros, as foto-não-grafadas, as fotografias sem foco, as entre-grafias etc. Tais notas podem ser tomadas como desvios aos clichês, uma mudança de direção relacionada ao acaso, ao caos, às linhas de errância, ao improviso, ao devir e ao risco. Sendo assim, a processualidade dessa pesquisa implica o inesperado, possui sempre um elemento de caos, resultante da existência de uma multiplicidade de trajetórias.
4 PISTA II - SER VERBO NO INFINITIVO
Ser ou não ser, eis o que não se fará questão. São tantas as maneiras distintas de existir: “entre o ser e o não ser, [há] tantas gradações” (PELBART, 2017. p. 396). Não se trata de ser caiçara se isso for entendido como o estabelecimento de uma dicotomia entre “a” cultura tradicional e “a” cultura globalizada. A modernização não pressupõe o fim das tradições, assim como as comunidades tradicionais não estão fadadas a ficarem fora da modernidade. Não são polos de uma oposição. Tanto as tradições quanto a modernidade são inconstantes e não estão livres de contradições. Desse modo, não se trata de os caiçaras voltarem a um idealizado modo rudimentar de vida, mas de se associarem às forças selvagens e inventarem (des)ajustes que não naveguem pela sujeição. Para tanto, eles vão inventando existências no trajeto, percurso permeado de intensidades, passagens, variações e multiplicidades. E, assim, através das porosidades da vida, conectam fragmentos e experimentam outros arranjos que possibilitam levar os conceitos e as vidas ao máximo de suas potências. Jogam, portanto, um jogo de (des)localizações, no qual dentro e fora sofrem efeitos de borda11, que constituem os ruídos, os desvios com os quais vão se confrontando.
Argumentamos que a cultura caiçara é composta por porosidades que geram efeitos de borda e movimentos de aproximação e distanciamento entre diferentes lugares e diversas culturas que atuam no seu devir. Sobretudo, se afetam mutuamente e geram movimentos imprevisíveis. Assim, os caiçaras navegam por ‘entre’ arquipélagos e continentes, aproximando-se do continente na mesma medida que dele se afastam, como se precisassem se afastar do “seu lugar” e do que lhes foi dado de antemão para que os (des)encontros - com o espaço, consigo e com o outro - aconteçam. Um dos efeitos decorrentes desses movimentos é a invenção do ser nômade no “seu lugar”.
Logo, no ato de criar e inventar esse nomadismo no “seu lugar”, eles se movimentam e desafi(n)am localismos exclusivistas, provocando rachaduras no próprio conceito de “caiçara”. Para que se criem possibilidades de invenção de outras narrativas e para que os caiçaras sigam a viagem à deriva, eles se refazem no hoje, na capacidade que têm de resistir, devir e reinventar as narrativas que insistem em dizer quem é e quem não é caiçara, como se existisse um “caiçara descaracterizado” e um “caiçara autêntico”. Essa é, inclusive, uma parte da investida da sua aniquilação: organizar o espaço, controlar os corpos, investir na conservação, na autenticidade e no essencialismo. Contudo, há linhas de fuga que rompem com as previsões de segurança e cerceamento às formas de circulação dos caiçaras, que tentam fixá-los em territórios e impedi-los de cruzarem as fronteiras - sejam elas subjetivas, econômicas, culturais, políticas, ambientais e/ou sociais.
Por diversas razões, muitos caiçaras ultrapassam essas supostas fronteiras e saem do seu lugar: o aumento da especulação imobiliária, a falta de serviços básicos, a busca por uma vida melhor, as estratégias das unidades de conservação etc. Passam, assim, a integrar “os civilizados”. Fora do “seu lugar”, fariam parte, ainda, das “comunidades tradicionais caiçaras”? Contudo, tantos outros continuam no “seu lugar” e mantêm uma relação estreita com a cidade, seja pelos seus deslocamentos, pela constante visita de turistas, pelo pouso que fazem na cidade quando necessário etc. Assim, vivem uma tradição movente, que incorpora fragmentos da modernidade necessários e interessantes a eles: diversão, trabalho, simplificação do cotidiano, saúde, educação etc. Desse modo, os ditos “caiçaras autênticos” integram elementos que não dizem respeito somente à tradição no seu dia-a-dia. “Descaracterizados”, estariam, portanto, todos eles, condenados a um “não-lugar”? Ou a um entre-mundos: nem comunidade tradicional, nem homem civilizado?
Os caiçaras conquistam, dia a dia, um espaço híbrido. Resistem na fronteira conservando a sua força, sendo ‘isso e aquilo’, sempre em devir. Não se contentam em ser “o povo escolhido”, “produzido” em nome de um ideal de vida, um ‘dever-ser’, acabado e verdadeiro. Eles nascem e morrem todos os dias, a cada escolha, a cada novo caminho traçado e desvio que surge. Em suma, não se trata da vida biológica, “mas dos gestos, maneiras, modos, variações, resistências, por minúsculas e inaparentes que pareçam - eis o que compõe uma vida, eis o que caberia ‘dar a ver’, ‘dar a ouvir’, ‘dar a pensar’, descobrir, inventar” (PELBART, 2017, p. 409). Não se trata, portanto, de identificar os sonhos dos caiçaras, desenhar o seu futuro, chegar no que seria um ideal de vida, mas compor com as forças em vias de redesenharem o real. Dessa forma,
[...] o que antes nem sequer era imaginável, torna-se pensável, desejável. Trata-se de uma redistribuição dos afetos que redesenha a fronteira entre o que se deseja e o que não se tolera mais. Ora, não se poderia usar esse critério igualmente para diferenciar as formas de vida? Uma vida não poderia ser definida também pelo que deseja e pelo que recusa, pelo que a atrai e o que lhe repugna? (PELBART, 2017, p. 412)
Chegamos ao final dessa travessia sugerindo que os caiçaras navegam à deriva, por entre ventos e correntes, não sabendo de antemão aonde vão chegar, tampouco quais encontros se darão no caminho, porém se movimentam, singram. Nas suas experimentações, abandonam as certezas e, nesse sentido, preservam, conservam e cultivam o que nomeamos como ‘devir-caiçara’. Assim, eles estão, ao mesmo tempo, submetidos a relações de controle, a um ‘dever-ser caiçara’ e se reinventando com as narrativas que fazem de si, justamente porque o voltar-se para si mesmo pode constituir-se uma linha de fuga, um ‘devir’ (DELEUZE, 1999). Nessa perspectiva, continuam a ser caiçaras em devir. ‘Isso e aquilo’. Cidade e floresta. Continente e arquipélago.














